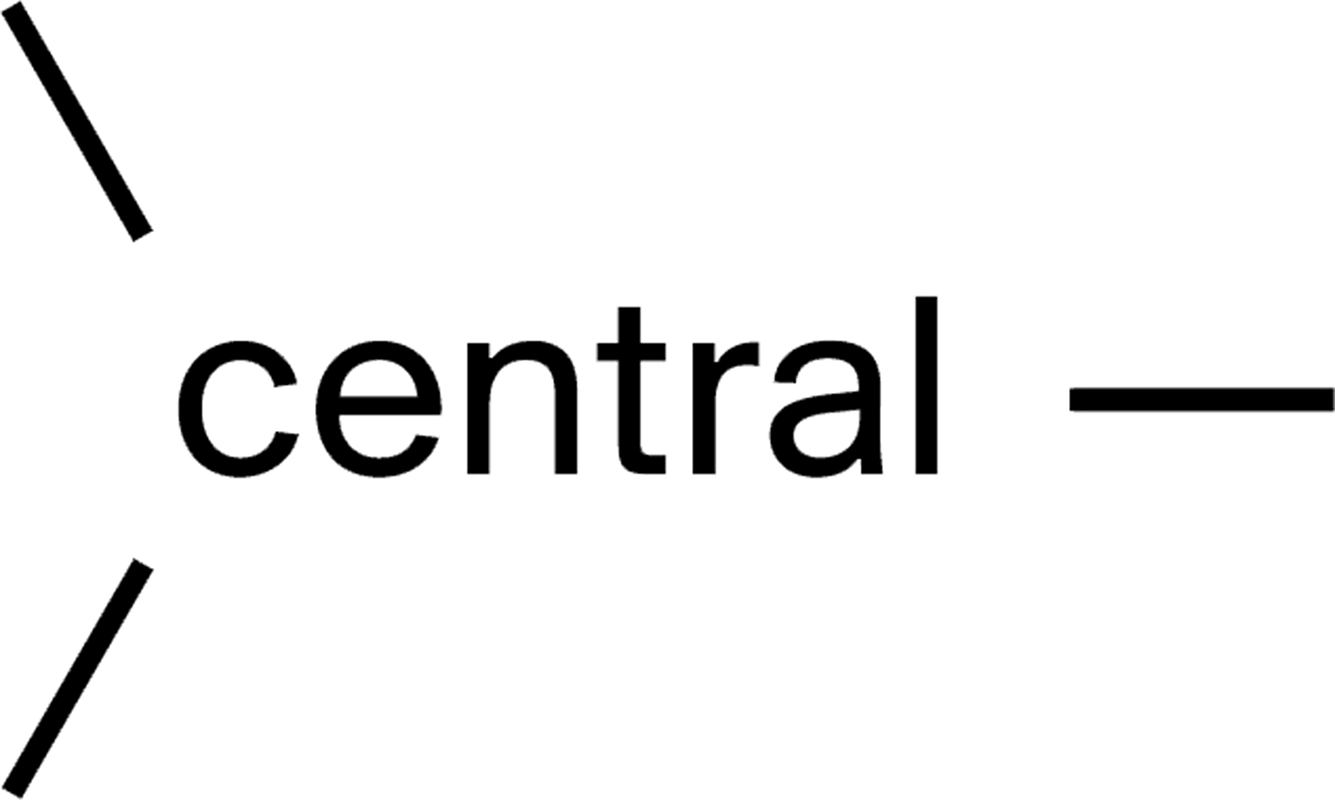27 nov 2021 – 29 jan 2022
curadoria tarcisio almeida
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar Buracos, Crateras e Abraços (parte 2), a primeira individual de Ana Cláudia Almeida em São Paulo. Com curadoria de Tarcisio Almeida, a mostra é um desdobramento de sua exposição na Quadra Galeria, apresentada em maio deste ano no Rio de Janeiro, e reúne cinco trabalhos inéditos de grandes dimensões.
“É por buracos, crateras e abraços – lugares sensíveis e dedicados a todos seus pares que não gostam de falar sempre – que Ana Cláudia Almeida articula seu trabalho”, afirma o curador. “Ao utilizar procedimentos aparentemente dissonantes ao campo pictórico como sorrir, dançar, traçar rotas sem nome, trocar olhares, a artista escolhe dar continuidade ao seu desejo de espaço propondo trabalhos que tensionam as expectativas da percepção ao colocar a própria paisagem em conflito. Topologias visuais, e não menos políticas, arranjadas entre a pintura expandida e a instalação que funcionam tanto como chamamentos quanto como rastros do seu movimento.”
Ana Cláudia Almeida nasceu em 1993 no Rio de Janeiro, onde vive e trabalha. Formou-se em Desenho Industrial pela UERJ com graduação sanduíche pela Virginia Commonwealth University. É co-fundadora do coletivo Trovoa e participou das residências Pivô Pesquisa, Valongo Festival Internacional e C.M.A. Hélio Oiticica. Foi indicada ao Prêmio Pipa em 2020 e finalista do Prêmio EDP das Artes em 2018. Participou de exposições em instituições como Fundação de Arte de Niterói, MAM Rio, Instituto Tomie Ohtake, Paço Imperial, Museu da República, Galpão Bela Maré e Solar do Abacaxis. Em 2021, realizou a individual Buracos, Crateras e Abraços (Quadra, Rio de Janeiro), além das coletivas Electric Dreams (Galeria Nara Roesler, Rio de Janeiro) e Crônicas Cariocas (Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro), entre outras. Sua obra está presente no acervo do Museu de Arte do Rio.
Para este ano, Ana Cláudia Almeida prepara ainda um projeto site specific no Auroras (São Paulo). Desenvolvido em parceria com Carla Santana, Submersiva Ato I inaugura em 3 de dezembro.
-
Corpo chamando espaço, de novo
Enquanto percorro nosso coro de vozes mirando este convite à leitura, me deparo novamente com uma formulação proposta pelo pintor sul-africano Ernest Mancoba que nos diz que abstrair significa, antes de tudo, virar as costas para as demandas dos patronos por imagens sanguíneas da vida. Menos interessado na construção de uma teoria da abstração como uma experiência oposta (ou conflitante) ao representacional, o que nos toca aqui é a possibilidade de compreensão do espaço abstrato como um ato de criação que move o real na direção daquilo que ainda não tem forma e, por isso, torna tangível nele mesmo a matéria que se faz necessária quando o vivo parece se esgotar. Como, então, escapamos do ímpeto pelo retiro apático a que facilmente nos lançamos diante de formas que desafiam nossos campos sensíveis? Quando a criação de um lugar que ainda não tem precedentes é o que pede passagem, abstrair é também experimentar a imaginação de novas políticas para si e para o mundo: 1) Pela fissura operada no território cultural capturado pelos formalismos sócio-histórico-políticos; 2) Pela construção de afirmações que vão além do esgotamento do verbal, da literalidade e da retórica; 3) Pela interrupção (mesmo que parcial) da circulação do significado replicável das imagens de poder e controle amplamente destinadas a corpos que escapam aos modelos regulamentares.
Norteados por essas questões, o que apresentamos abaixo é um breve conjunto de transcrições que marcam nossas conversas em torno do conjunto de obras desenvolvidas pela artista para o contexto de sua primeira individual em São Paulo na Central Galeria. Nesse jogo, desejamos mapear os principais procedimentos que constituem sua pesquisa, bem como a criação de algumas análises estético-políticas instauradas em seu cotidiano de trabalho. Composta de cinco pinturas inéditas em grande formato, Ana Cláudia Almeida persegue o desenvolvimento de práticas aparentemente dissonantes com relação ao campo pictórico, como sorrir, dançar, traçar rotas sem nome, trocar olhares… Visando dar continuidade ao seu desejo de espaço por meio de experiências que tensionam as expectativas da percepção colocando a própria paisagem em conflito. Topologias visuais, e não menos políticas, arranjadas entre a pintura expandida e a instalação que funcionam tanto como chamamentos como rastros do seu movimento.
***
Tarcisio Almeida: Eu gostaria de te propor a construção de algumas relações entre os seus trabalhos e experimentos artísticos iniciais e a sua pesquisa atual. Nisso que estamos chamando de primeiro momento você parecia se concentrar nas narrativas aquáticas que atravessavam o seu cotidiano, seu trânsito pelos tecidos sociais no Rio de Janeiro, uma relação com a memória dessas experiências impressas no seu corpo que se traduzia também em composição e plasticidade. Hoje encontramos um certo deslocamento dessa experiência individual da paisagem visual para uma dimensão mais coletiva, sem perdermos de vista a singularidade desse processo. Como você tem entendido essa passagem? Mais do que mapearmos as diferenças entre esses momentos, o que há de comum entre eles? O direito ao espaço continua sendo uma questão latente em seu processo?
Ana Claudia Almeida: Desde o início da minha produção venho trabalhando com paisagens aquáticas, e ainda faço isso, mas de maneira menos concentrada. Percebemos outros componentes no vocabulário do dia a dia de ateliê que apontavam mais para um sistema, que também incluía a ação/movimento, a passagem do tempo e paisagens de outras naturezas, sendo esse sistema a própria ideia de espaço. Aconteceu uma ampliação desse raio de interesse ou, na verdade, só a consciência disso. Não acho que meu trabalho, de fato, lida com o direito ao espaço. Existe muita gente lutando objetivamente por esse direito, e eu não me vejo como uma dessas pessoas. Meu maior pavor é superestimar minha profissão (não só a de hoje, mas as do passado também); isso não quer dizer que eu não vejo o lugar de contribuição do que eu faço, mas evito dizer que estou lutando por mais coisas do que eu realmente estou. Trabalho com o espaço de maneira subjetiva, e isso a meu ver não é uma luta pelo direito ao espaço, é uma busca pelo direito à subjetividade.
TA: Um ponto recorrente em nossos encontros nesses últimos dois anos é a construção de uma relação entre a abstração e sua espessura política, como se o exercício abstracional, em seu sentido mais amplo, fosse também uma ferramenta de decomposição para certos campos de representação social historicamente instituídos a nós. No texto que marca a primeira apresentação de Buracos, Crateras e Abraços formulamos a seguinte proposição: "Chamar o espaço por meio daquilo que ainda não tem forma é tornar tangível nele mesmo a matéria que se faz necessária quando o real parece estremecer. Nesse sentido, abstrair é agir desde um mundo a favor do que pede passagem e por isso urge pela criação de um lugar que ainda não há precedentes". Como você gostaria de comentar essa relação? De que forma ela marca o desenvolvimento da sua prática artística?
ACA: Bom, a meu ver trabalhar a matéria é moldar o real sem a palavra. Me interesso em criar oportunidades de vida fora da norma (na minha própria vida), digo, acordar, me sentar no computador ou pegar uma ou duas horas de ônibus, entrar num escritório, fazer reunião de trabalho etc. Fazer arte é uma maneira de romper com as possibilidades corporais que me foram apresentadas como trabalho. Pessoas diferentes de mim receberam possibilidades diferentes das minhas, com um leque de opções de ângulo mais agudo ou obtuso, dependendo do lugar social que cada uma ocupa. No meu caminho, em algum momento pude escolher engajar meu corpo na atividade de pintura, que não tem nenhuma função super objetiva. Me encanta essa inutilidade mais do que tudo, porque é de fato um privilégio poder trabalhar, um pouco que seja, fora da lógica da produtividade. Em última instância, quando faço uma exposição em uma galeria com intenções comerciais estou vendendo um produto da minha subjetividade para pessoas que possuem tais recursos, e esse é o retorno pessoal que eu tiro disso, além, é claro, de todas as trocas pessoais que o encontro expositivo me gera. Agora, o retorno coletivo do meu trabalho se dá principalmente quando pessoas não especializadas nos vocabulários do mundo da arte o acessam, e a pintura pode contribuir de algum modo para a ampliação de repertório compartilhado, permitindo que mais fissuras das normas do corpo aconteçam. Isso é algo que é muito mais raro de vermos numa galeria comercial, onde o público em geral é muito mais restrito até mesmo pelo desconforto que os altos preços e o clima que o "mercado de luxo" geram num cidadão comum.
TA: Se estamos priorizando a criação de um regime visual que destitui certos sentidos prévios, acabamos também tocando nas formas de materializar e experimentar tais regimes. Quais procedimentos de formalização como gesto, relação entre corpo e obra, tesão e conflito você gostaria de destacar? Quais os principais processos que marcam suas escolhas nos trabalhos aqui apresentados?
ACA: Eu destacaria os eixos vertical, horizontal e diagonal. Muita coisa eu faço na mesa e depois levo à parede para finalizar; a mudança de plano enquanto estou fazendo o trabalho também gera mudança de plano na imagem criada. Se, por exemplo, na mesa eu estiver trabalhando com uma imagem que poderia apontar mais para uma vista superior de uma área x, quando levo para a parede esse deslocamento me permite ganhar contornos de paisagem com vista frontal; o conflito de vistas me interessa. Me esforço para criar linhas que sejam inquietas e que ao mesmo tempo direcionem os caminhos do olhar. Eu estou atrás do movimento, evito criar imagens em repouso nas pinturas.
TA: Eu costumo sugerir que existem muitas forças e intensidades que atravessam a visualidade dos seus trabalhos. Escolho “forças e intensidades” porque não se trata meramente de qualidades e adjetivações visuais. Elas dizem sobre um certo "fenômeno de vidência" que você nos oferece. Como se o corpo, no instante em que pode habitar o espaço abstrato, pudesse ao mesmo tempo repelir o que dele é intolerável e reconhecer nessa mesma brecha a possibilidade de uma outra coisa. A recusa do nome (que não é a ausência de títulos) é uma dessas escolhas que nos fazem sair da "unidade" para a "multiplicidade"? Dizem também sobre um processo de descaptura cognitiva, visual, muscular e existencial?
ACA: Por enquanto sim. Tenho evitado títulos e nomes por dois motivos: o primeiro vem de um desconforto geral de, como artista negra, facilitar narrativas que justifiquem meu trabalho como valor social público, algo que eu não vejo sendo cobrado de pessoas brancas. O segundo responde a um “atrapalhamento” meu com as palavras na vida como um todo, de me emaranhar nelas e me sentir presa. Ambos estão se diluindo, então talvez isso mude em breve, mas até aqui achei importante a recusa do mergulho nas palavras junto dos trabalhos. Penso também que sustentar certas coisas sem nome é mantê-las livres (mesmo que temporariamente) de certos contextos e, fugindo da filosofia de orkut, de fato, isso permite que as coisas permaneçam mais abertas.
vistas da exposição