próxima exposição
exposições atuais
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

eliane duarte: reza
09 mar - 11 mai 2024
texto de catarina duncan
-
A Central Galeria tem o prazer em apresentar “Reza”, exposição individual da artista carioca Eliane Duarte, com texto crítico de Catarina Duncan.
Eliane Duarte nasceu em 1943 no Rio de Janeiro e teve uma produção artística breve, mas intensa, até seu falecimento prematuro em 2006. Suas obras expandem os limites da tela como suporte e ganham corpo como objetos-amuletos-rezos. Feitos com tecidos, algodão, pigmentos naturais, cera, sementes, corda, penas, moedas e muitos outros elementos, habitam uma mística, ganhando corpo como entidades e forças únicas. Conforme relato de Duarte: “Meu trabalho é quase uma reza, no sentido de fazê-los de forma lenta e por uni-los uns aos outros, costurando-os como se fossem patuás. Queria uma coisa que desse sorte às pessoas e tudo que eu coloco tem a função de amuletos”.
Ao conhecer sua prática, acessamos fundamentos da natureza, formas orgânicas, flores, cachos e vestes que se materializam em suas obras através de um processo de costura visceral. A costura é uma prática ancestral mas frequentemente associada ao universo feminino domesticado. Entretanto, a voracidade com que Eliane trabalhou com essas técnicas aproximam o fazer artesanal ao cirúrgico. Suas metodologias explicitam também a urgência de se comunicar de outra forma, tridimensional mas não escultórica, com costura em pele e não só em tecido, sempre driblando das conformidades práticas do mercado de arte.
Sua obra é um legado à prática artística de mulheres no Brasil, que seguem sem o devido reconhecimento na memória coletiva de sua geração, evidenciando os processos patriarcais das decisões históricas sobre quem é reconhecido. Acessamos um conjunto de trabalhos que nunca foram apresentados juntos e assim resgatamos e honramos a memória não só dessa grande artista mas de todas as mulheres, artistas que seguem sem o devido reconhecimento.
Eliane Duarte estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, de 1987 a 1989. Começou a se destacar no cenário artístico ao ganhar o 1º Prêmio do Salão Nacional de Artes Plásticas da Funarte em 1994, com a obra “Veste”. Desde então, o sentido de maceração associado à ideia de gerar pele tornou-se um tema proeminente em sua poética.
Além de inúmeras individuais nas galerias Anna Maria Niemeyer, no Rio, e Camargo Vilaça, em São Paulo, expôs em: MAC Niterói; MAM Rio de Janeiro; Paço Imperial; Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro; Itaú Cultural de São Paulo. No exterior participou de coletivas em: Museu Solomon R. Guggenheim, Nova Iorque; Centro Cultural de Arte Contemporâneo, Cidade do México; Museo Alejandro Ottero, Caracas; Centro Cultural Culturgest, Lisboa; Museo del Barrio, Nova Iorque; Museo de Arte Latino-Americana, Buenos Aires; Coconut Grove Center, Miami; BildMuseet, Umea, Suécia; Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris. Suas obras integram as mais importantes coleções brasileiras, como: João Sattamini/MAC Niterói; Gilberto Chateaubriand/MAMRio de Janeiro; Coleção do MAC São Paulo; e internacionais como: Coleção Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, Bernard Soguel, Basel; Cisneros e Museo Alejandro Otero, Caracas.
-
As obras de Eliane Duarte expandem os limites da tela como suporte e ganham corpo como objetos-amuletos-rezos. São feitas com tecidos, algodão, pigmentos naturais, cera, sementes, corda, penas, moedas e muitos outros elementos. Seus trabalhos têm mística e ganham corpo como entidades e forças únicas, como relatou a artista em um de seus escritos: “Meu trabalho é quase uma reza, no sentido de fazê-los de forma lenta e por uni-los uns aos outros, costurando-os como se fossem patuás. Queria uma coisa que desse sorte às pessoas e tudo que eu coloco tem a função de amuletos” .[1]
Ao conhecer sua prática, acessamos fundamentos da natureza, formas orgânicas, flores, cachos e vestes que se materializam em suas obras por meio de um processo de costura visceral. A costura é uma prática ancestral, mas está frequentemente associada ao universo feminino domesticado. Entretanto, a voracidade com que Eliane trabalhou com essa matéria explicita a urgência de comunicar força pela costura, sempre driblando as conformidades estruturais e estéticas do mercado de arte. Como a artista nos diz: “Trabalho com agulha e linha como se fossem vísceras, meu intestino grosso e delgado... É através deles que existo e tento fazer arte. Com agulha e linha crio um pequeno mundo pra mim mesma, onde tento me entender”[2]. A artista inverte o trabalho da costura associado à mulher silenciada, e o transforma em uma forma de expressão potente que perfura, machuca e expõe as dores de um corpo coletivo.
A associação entre mulheres e natureza é também ancestral, uma afiliação que atravessa culturas e vem se fortalecendo enquanto vivenciamos a luta das mulheres por uma libertação cultural e econômica, ao mesmo tempo que assistimos as irreversíveis consequências da exploração da natureza. A percepção de que ambas as mulheres e a natureza são produtos a serem explorados, ou bens a serem consumidos, conecta a necessidade de despertar uma nova consciência ecológica e feminista.
A obra de Duarte acessa intuitivamente essa questão pela escolha de materiais naturais, pela prática da costura e pela forma como desafia os limites da arte contemporânea no seu tempo. Ao realizar obras tridimensionais mas não escultóricas, Duarte criava objetos vivos e utilizava matéria orgânica, métodos associados a fazeres “utilitários”, aproveitando restos de tecidos e reciclando materiais, ela desafiava as estruturas enquanto potencializava a sua conexão com a arte através da relação entre o corpo e a terra. Em sua obra camuflagem, a artista produz esculturas em tecido, como disse ela, “Há tempos trabalho com sobras, começar de novo, sobrevivência. No trabalho camuflagem envolvi cocos de babaçu em tecido, dando o sentido de preciosidade, proteção – É uma pequena homenagem às muitas árvores queimadas. Logo após as queimadas, são as palmeirinhas novas, as primeiras a despontar.”[3] A obra ganha forma na exposição como mapa da América do Sul, estabelecendo a conexão da artista com seu território.
No livro A morte da natureza, cuja primeira publicação foi em 1980, a filósofa eco-feminista Carolyn Merchant fala sobre a perspectiva do mundo como um organismo vivo: “Ao investigar as raízes do nosso atual dilema ambiental e suas conexões com a ciência, tecnologia e economia, precisamos re-examinar a formação de uma visão de mundo que, reconceitualizando a realidade como uma máquina, não como um organismo vivo, sancionou a dominação tanto da natureza quanto das mulheres”[4]. Merchant introduz a questão de um mundo que se esqueceu de sua essência em prol de um pensamento extrativista e desenvolvimentista, em grande parte patriarcal e masculino.
É importante ressaltar que não é o propósito desta análise restabelecer a natureza como mãe da humanidade, nem defender que as mulheres assumam um papel de educadoras, mas afirmar que precisamos nos libertar dos rótulos estereotipados que nos aprisionam. Como ensina a autora indiana Vandana Shiva: “A libertação da terra, a libertação das mulheres, a libertação de toda a humanidade é o próximo passo de paz que precisamos criar”[5].
A ideia de desenvolvimento como desenraizamento é elaborada também por Vandana Shiva: “O desenvolvimento significou a ruptura ecológica e cultural dos vínculos com a natureza...”[6]. O processo de trabalho de Eliane Duarte é também um processo de enraizamento, de reconexão com o próprio corpo e sua natureza.
Eliane Duarte tinha uma conexão profunda com seu processo artístico, processos que se manifestam muitas vezes nos títulos de suas obras: espiões, almas, cachos, fantasmas, iemanjá e vênus são alguns exemplos que nos aproximam do universo interior que a artista acessava em suas produções. Ao reverenciar entidades e orixás, a artista enfatizava o caráter espiritual de suas obras, e elementos sagrados e cotidianos formavam uma produção inata com o propósito de cuidar, proteger e transformar quem as observava. Uma de suas obras também era chamada pela artista de entes – como “parentes”, suas obras tinham vida e se relacionavam com ela dessa forma. Para Shiva, “o sagrado é o vínculo que conecta a parte e o todo”[7].
Eliane Duarte operava sobre as nossas peles, e sua obra é um legado da arte contemporânea brasileira. Por motivos estruturais, sua obra segue sem o devido reconhecimento na memória de sua geração. Nesta exposição, acessamos um conjunto de trabalhos inéditos, como flor de lótus, desenvolvidos no fim de sua vida, e muitos que não são apresentados há anos. Por isso se tornam tão urgentes quanto a sua criação, como relata em uma de suas anotações: “...estou criando. Acho mais interessante, mais urgente”.
Retomo aqui a importância de associações do sagrado, da natureza e da matéria. Ao saudar o invisível e o não dizível nos aproximamos de uma compreensão sutil de objetos particulares. Reza é uma exposição que apresenta um organismo espiritual e político que se entrelaça nas obras e na memória de Eliane Duarte, resgatada de acordo com a ordem de grandeza de suas obras e sua potência de conexão telúrica.
// Catarina Duncan
[1] DUARTE, Eliana. Tribuna Bis, 2002
[2] DUARTE, Eliana. Entrevista para Claudia Saldanha no texto ‘Agulha Guia’. 2019
[3] DUARTE, Eliana. Obras comentadas.
[4] MERCHANT, Carolyn. A morte da natureza, 1980. Harper & Row, Publishers, San Francisco, 1990. p.15.
[5] SHIVA, Vandana. Ecofeminismos - A busca por raízes, 2014. Editora Luas, Belo Horizonte, 2021. p. 183.
[6] SHIVA, Vandana. Ecofeminismos - Sem teto na aldeia global,2014. Editora Luas, Belo Horizonte, 2021. p. 189.
[7] SHIVA, Vandana. Ecofeminismos - Conhecimento indígena das mulheres e conservação da biodiversidade, 2014. Editora Luas, Belo Horizonte, 2021. p. 276. -
vistas da exposição






allan weber: novo balanço
23 mar - 27 abr 2024
texto de jean carlos azuos
-
A Central Galeria, em parceria com a Galatea, tem o prazer em apresentar Allan Weber: Novo Balanço.
A mostra individual do carioca Allan Weber, representado pela Galatea, tem texto crítico de Jean Carlos Azuos e acontece no IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil do dia 23/03 ao 27/04. O artista ocupa os dois andares do mezanino do edifício modernista icônico projetado por Rino Levy. Weber apresenta desdobramentos de sua pesquisa sobre as lonas utilizadas em bailes funks do Rio de Janeiro, além de uma nova instalação site specific da série Passinhos e um conjunto de obras inéditas.
-
NOVO BALANÇO
Allan Weber (Rio de Janeiro, 1982) apresenta, no mezanino do IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil, a série Novo Balanço, que traz desdobramentos recentes da sua pesquisa em torno das lonas de baile funk. A nova série evidencia a continuidade e o aprofundamento das investigações do artista sobre as materialidades, estudos cromáticos, suportes e suas interseções com as arquiteturas dos espaços em que estes trabalhos estão inseridos, aspectos que demonstram sua contínua expansão.
Desde a sua primeira exposição individual, Existe uma vida inteira que tu não conhece (2020), o artista tem consistentemente ampliado o acesso à sua realidade, aproximando-nos de seu lugar de origem e de sua comunidade, que é a base central de suas referências, inspirando e permeando suas provocativas manobras estéticas.
A pesquisa de Weber avança através das disputas sociais, geopolíticas e simbólicas, impulsionando seu percurso pelas linguagens artísticas a questionar e confrontar os estigmas dos espaços historicamente subalternizados. Enquanto a história contemporânea brasileira frequentemente retrata as periferias como locais de violência e subversão, Weber, nascido e criado na favela 5 Bocas, no Rio de Janeiro, continua a desafiar essa visão, percebendo nesses espaços os conceitos, manufaturas, códigos e tecnologias que impactam e informam esteticamente sua produção.
Nesse contexto, a lona emerge como a interface e materialidade das experimentações em suas pinturas expandidas, esculturas, instalações e obras site specific, conferindo sentido e contorno à pesquisa, que ganha amplitude no pensamento e na execução. Se, por um lado, as lonas têm uma função inerente às dinâmicas dos circos, eventos e bailes de rua, em que seu uso é comumente voltado a servir a algum propósito, seja para proteger o público das intempéries ou simplesmente como elemento estrutural e estético, Weber reconfigura o seu significado ao elevar a lona como elemento central, protagonista e superfície de criação de sua poética.
A produção do artista, especialmente as obras que integram esta nova série, estabelece conexões com a história da arte brasileira ao explorar as confluências entre suas criações e os movimentos concretista e neoconcretista. Ambos caracterizados por sua busca por inovação e vanguardismo, desafiaram as convenções estéticas e conceituais dominantes de seu tempo, propondo novas formas de expressão e de pensar e fazer arte inseridos em contextos sociais. O trabalho de Weber nos lembra disso e amplifica as ressonâncias dessa busca por autenticidade e novas formas de operação na arte.
Nas paredes, a interação entre as cores e a presença da monocromia revelam a ruptura de uma padronização predefinida entre as cores comuns utilizadas na confecção de lonas, adotando uma intensidade cromática que influencia a composição das formas sobre o plano. Isso se manifesta através de paletas de cores uniformes e nas variações geométricas.
No espaço expositivo, lonas densificam-se no chão, amarradas, deixando pistas de algo a se desenrolar ou de uma despedida, criando dicotomias a serem descobertas, que aguçam as narrativas e curiosidades em torno da fenomenologia do próprio material e sua polissemia de sentidos.
Em contraponto, as obras site specific intituladas Passinhos formam danças com as lonas suspensas, criando coreografias sobre nossas cabeças e por entre os vértices da simbólica arquitetura moderna, projetada por Rino Levi. Por meio de diferentes escalas, deslocam nossos olhares ao seu redor, sobrepondo linhas, curvas e volumes, que desenham no espaço composições múltiplas.
Allan Weber: Novo Balanço convida os espectadores a participar de uma experiência imersiva, em que temos a oportunidade não apenas de observar, mas também de interagir com as lonas. Andar, circular, balançar o olhar entre elas, explorar suas texturas e formas. Este encontro com as materialidades expostas permite uma apreciação mais profunda das nuances presentes, tanto físicas quanto conceituais, que se manifestam no espaço expositivo. A exposição busca, ainda, flertar com a essência das ruas, seus elementos simbólicos e as complexidades da vida urbana. Ao fazê-lo, transcende as fronteiras entre o ordinário e o extraordinário, lançando luz sobre as interseções entre arte, gesto e arranjos estéticos, enquanto ecoa significativamente suas implicações sociais e políticas.
// Jean Carlos Azuos
vistas da exposição






ros4: a vida e a morte de rosa luz
25 mai - 3 ago 2024
curadoria de nutyelly cena
-
[espaço release]
-
[texto nutyelly]
-
vistas da exposição






novas masculinidades
01 - 20 dez 2023
curadoria de thyago nogueira
expografia de tiago guimarães
exposição da revista balam no mezanino do iabsp
foto: fe avila
-
A Central Galeria e o IABsp têm o prazer de apresentar uma exposição em parceria com a revista argentina Balam: Novas Masculinidades.
Com curadoria de Thyago Nogueira, projeto expográfico de Tiago Guimarães e produção de Fe Avila, a mostra exibe a materialização de sua própria revista, transferida para as paredes. Monta uma cartografia, ou melhor, uma nova edição que é composta a partir do cruzamento com outras edições, levantando questões sobre estereótipos, sexualidade e normas coloniais em torno de corporeidades masculinas distorcidas.
Balam constrói uma instalação a fim de refletir sobre as diferentes formas de representação para aqueles futuros que ainda estão em restrição e para aqueles que criaram seu próprio h(n)ombre. Situa o gênero por meio de corpos e coloca-os em um tempo e lugar. As novas masculinidades não são novas, elas sempre estiveram presentes e emergem em multiplicidade diante da liberação proporcionada pelo desejo, pelo gozo, pela sensualidade, pela luta e pela luta pela identidade.
No dia da abertura, teremos uma conversa com Facundo Blanco, escritor convidado desta edição, e Luis Juárez, editor e diretor da revista.
-
A dor e a delícia de ser o que é
Na cultura maia, BALAM é a onça-pintada, rainha soberana da floresta. A onça domina e constrói seu território ao circular com valentia e perspicácia, razão pela qual é associada à divindade que promove o trânsito entre mundos opostos, entre a noite e o dia.
Criada em 2015 pelo editor hondurenho Luis Juárez, a revista BALAM apresenta fotógrafes e artistas, com foco especial na América Latina. Como a entidade mesoamericana, BALAM faz a ponte entre mundos distantes, para garantir o trânsito livre de corpos, vozes e histórias dissidentes, celebrando o desejo em todas as latitudes. Iniciada como manifesto independente, BALAM transformou-se em um projeto coletivo, abraçando a todes que se identificam com uma vivência queer. Para além de uma letra específica, ser queer é fazer da existência uma luta contínua contra tudo que pretenda limitar nossos corpos a uma estrada única.
Nas páginas de BALAM, masculino, feminino, transgênero e não-binário dançam juntos, na direção do futuro, com o que mais puder ser inventado. Percorrê-las é transformar voyeurismo em conhecimento, saciando a curiosidade pelo outro até encontrar-se diante do espelho. É ver brotar a gramática infinita do desejo, mesmo em um mundo de recursos limitados, e descobrir que a beleza é a coragem de ser.
Editar uma revista de imagens é fundar um território e abrigar uma comunidade, oferecendo um refúgio seguro para que ideias e afetos sejam vistos, debatidos e compartilhados. É praticar uma espécie de cruising, aproximando corpos desconhecidos para despertar seus desejos e impedir que sejam controlados – uma estratégia de sobrevivência e resistência.
Toda revista é uma antena parabólica, uma sinfonia polifônica, um fóssil do tempo. Uma revista pode ser também um objeto desejante, um corpo que se aviva em mãos alheias para exibir a sensualidade das páginas, a textura dos papeis, o sussurro das folhas, a rigidez das capas, os furos da agulha, as amarras de encadernação, a cola que lambe a todos.
Para celebrar o tema da nona edição de BALAM, esta exposição expande o conceito de Novas Masculinidades ao recombinar páginas das edições anteriores, promovendo um novo cruising de fotos e corpos, ideias e vontades. Redefinir a masculinidade é reconhecer suas margens, é celebrar seu fracasso e sua vulnerabilidade, é borrar a fronteira entre o choro e gozo para inundar o patriarcado e a heteronormatividade até dissolvê-los.
Encravada no centro de São Paulo, esta sede do IAB compartilha o espaço histórico da resistência gay e travesti da cidade. Uns circulam de noite; outros, de dia. Cabe ao que aqui trabalham transformar o território dos desejos em espaços seguros nas cidades, para abrigar toda e qualquer onça ameaçada em sua existência plena, sob um teto ou no sereno.
// Thyago Nogueira
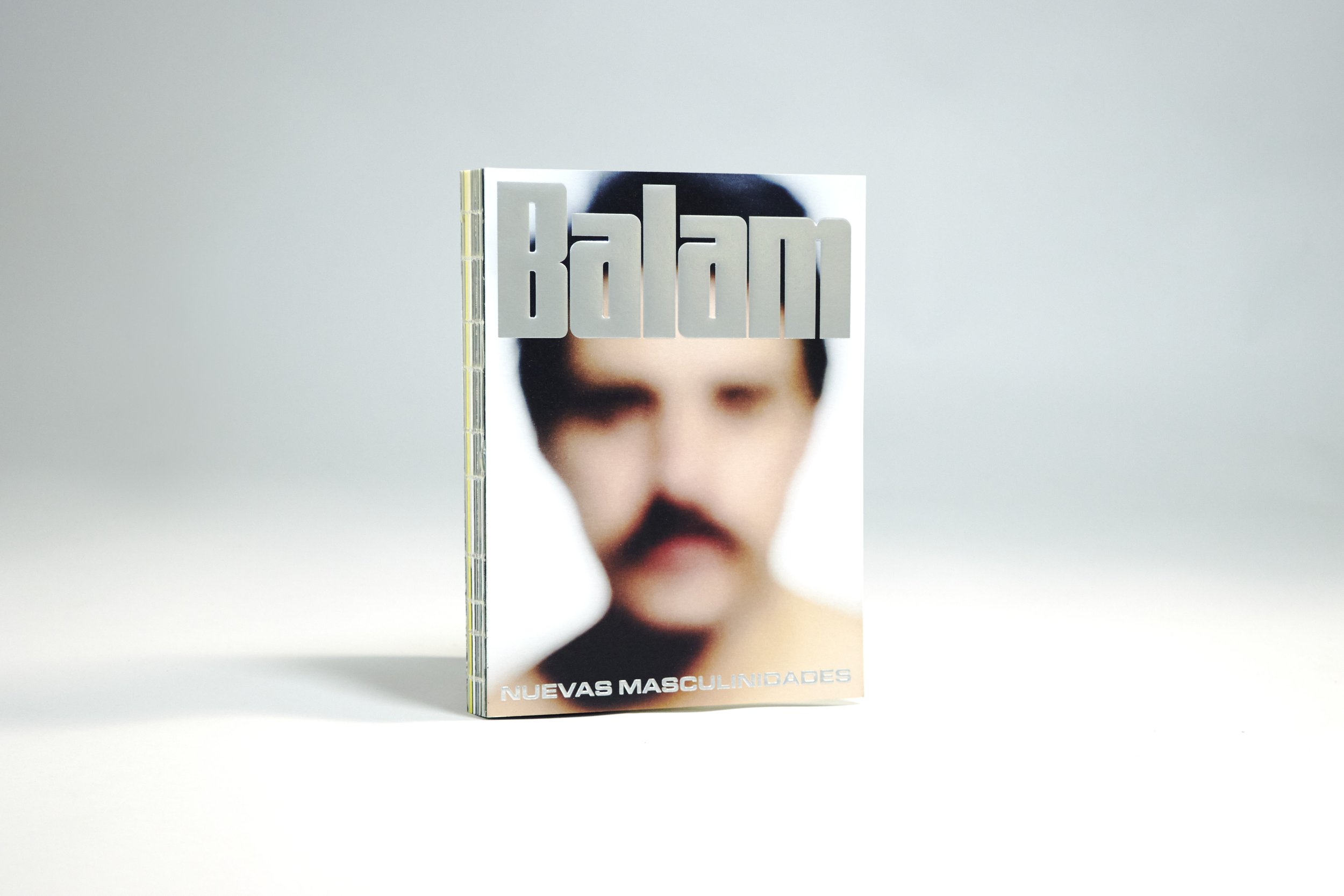












vistas da exposição












ana júlia vilela e dona roxinha: hoje acordei linda
07 nov 2023 - 24 fev 2024
texto de paula borghi
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar Hoje acordei linda, uma exposição conjunta de Ana Júlia Vilela e Dona Roxinha, acompanhada por um ensaio assinado por Paula Borghi.
O título faz referência a uma das obras de Roxinha e expõem a forma dual de se encarar a contemporaneidade: ora de forma otimista, ora pessimista. Como observado por Paula Borghi, baseando-se na anedota sobre “O Dia da Boa Notícia” do portal iG (contada recentemente no episódio 42 do podcast Rádio Novelo Apresenta), “sempre há de haver boas e más notícias. [...] Em um dia, por exemplo, acorda-se linda; no outro, indaga-se se todos os homens odeiam as mulheres”.
As pinturas de Ana Júlia e Roxinha, com uma variedade de tons pastéis, exploram as nuances de suas realidades cotidianas. De gerações diferentes, as artistas compartilham, muitas vezes, formas semelhantes de encarar o mundo. Ana Júlia nasceu logo após a popularização da internet doméstica, o que a torna intimamente familiarizada ao consumo e produção de texto e imagem conforme a linguagem de deboche das redes sociais. Em contrapartida, Dona Roxinha vem de uma época e sociabilidade muito distintas, quando “os memes eram feitos analogicamente, tal como nas frases de caminhão”, como coloca Borghi.
A exposição Hoje acordei linda apresenta pinturas sobre tela e madeira com discursos paralelos, muitas vezes em tom irônico, que abordam temas diários e triviais, permeados por questões relacionadas ao gênero feminino e aos discursos feministas.
Ana Júlia Vilela nasceu em 1996 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), desenvolve sua poética principalmente na pintura e desenho. Seu trabalho transita entre o gráfico e o pictórico entendendo a tela tanto como superfície quanto janela. Aproveitando da linguagem instantânea das redes sociais em uma iconografia própria, repleta de formas fluidas e narrativas não lineares que intercalam humor e cultura pop, desenvolve um universo próprio com um leque de possibilidades temáticas.
Maria José Lisboa da Cruz nasceu em 1956 em Lagoa de Pedra, Alagoas. Conhecida como Dona Roxinha, começou a trabalhar no fim da adolescência no cultivo de macaxeira, feijão e milho. Quebrou brita em pedreira e foi gari por quase duas décadas. Aos 59 anos começou a desenhar, e, em pouco tempo, expandiu fisicamente sua produção, substituindo as pequenas folhas de papel pelas paredes e muros de sua casa. Em 2021, passou a pintar em pedaços de MDF e materiais que encontrava em terrenos baldios durante suas caminhadas com um de seus filhos e o marido. Em 2023, fez sua primeira exposição individual, “Roxinha, uma vida de novela”, no Museu do Pontal, Rio de Janeiro/RJ.
-
No dia 11 de setembro de 2001, o iG, um dos maiores portais de notícias da internet brasileira dos anos 2000, resolveu ir contra os fundamentos do jornalismo e se propôs a publicar durante todo o dia somente boas notícias. Neste mesmo dia, no entanto, aconteceu o ataque às torres gêmeas do World Trade Center, levando por água abaixo qualquer possibilidade de um veículo de informação relevante não publicar uma má notícia tão urgente e importante como aquela. Na ocasião, o editorial do portal declarou: O iG tentou, mas a história não deixou.
Fato é que, independentemente da data, sempre há de haver boas e más notícias. E é isso o que vemos na produção artística de Ana Júlia e Roxinha: dizeres que anunciam uma espécie de crônica pictórica das experiências vividas por elas, com assuntos “bons” e “ruins”. Em um dia, por exemplo, acorda-se linda; no outro, indaga-se se todos os homens odeiam as mulheres. São pinturas imperativas, com afirmações protagonizadas por artistas mulheres que buscam conduzir o olhar e a imaginação de quem as contempla para mais perto daquilo que elas vivem, do que elas são.
São trabalhos de arte que contam histórias de um universo particular e que posicionam o pessoal como político. Como bem analisa a jornalista e feminista Carol Hanisch, o que acontece no âmbito pessoal também é de interesse coletivo, social e político. Em suas palavras, “o pessoal é político”. Compartilhando desta perspectiva, temas do cotidiano são abordados pelas artistas com uma linguagem direta e sem filtro, quase que ingênua de tanta coragem ao se colocarem na primeira pessoa em suas narrativas. Assim, não há espaço para questionar sua implicação nas imagens, por mais distintas que sejam suas biografias.
De forma sintética, Ana Júlia nasceu em 1996 na cidade de Belo Horizonte, MG; na adolescência fez um curso profissionalizante de manicure, pedicure e designer de sobrancelhas pela Embelleze; estudou Artes Visuais na Universidade Federal de Pelotas; e atualmente está em residência artística na Via Farini, Itália. Realizou sua primeira exposição individual em 2019 no Museu de Arte de Ribeirão Preto, SP. Já Roxinha nasceu em 1956 na cidade de Lagoa da Pedra, AL. Na juventude, trabalhou na roça; na vida adulta, quebrou brita em pedreira e foi gari por quase 20 anos. Autodidata, começou a se interessar por arte aos 59 anos de idade, dedicando-se profissionalmente à pintura a partir de 2021 e realizando sua primeira individual em 2023 no Museu do Pontal, RJ.
Para além das diferenças presentes nos demarcadores regionais, sociais e culturais que as atravessam, vale ressaltar que enquanto Ana Júlia é fruto de uma geração que cresceu com o advento da internet, Roxinha é de uma época em que os memes eram feitos analogicamente, tal como nas frases de caminhão. Esses dados são relevantes para compreender suas escolhas estéticas e conceituais, já que, por mais que as referências de vida sejam tão distintas, elas se utilizam de uma escrita sintética (independentemente do idioma e da ortografia) e de figuras simples em suas composições, frequentemente envoltas por uma atmosfera irônica e leve na lida com os assuntos diários e banais, ainda que por vezes densos.
A presença recorrente da figura da mão ou apenas dos dedos na produção de Ana Júlia pode estar associada à sua formação de manicure e a performatividade da gestualidade feminina; O pulso que cai (Fabiana Faleiros, 2016) e Um útero é do tamanho de um punho (Angélica Freitas, 2012). Existe uma metalinguagem nessas imagens, como se a artista falasse com as mãos. Contudo, há também uma dimensão mágica e misteriosa naquilo que está sendo dito.
A produção de Roxinha, por sua vez, é marcada pela presença do rosto, a fim de assinalar a figura humana como protagonista do trabalho, como agente da história. São pinturas figurativas que narram acontecimentos reais ou inventados pela artista, “daquilo que vem na cabeça”, como ela afirma. Tem-se, assim, uma série de retratos visuais cuja cor muito se assemelha à cor de pele da artista, “roxinha de tão morena”, em suas palavras. São imagens que muitas vezes vêm emolduradas pela própria pintura e que estão prontas para compartilhar resenhas.
Pode-se, assim, afirmar que tanto Ana Júlia como Roxinha apresentam produções artísticas com temas inesgotáveis, pois falam da vida em si. Como se houvesse sempre algo a mais a ser contado, criando a necessidade da realização de um próximo trabalho e assim por diante. E por serem elas artistas mulheres que tomam como referência as próprias experiências, parece quase inevitável abordar temas relacionados ao gênero feminino e aos feminismos.
Por tudo isso, não é de se estranhar que a exposição comunica – sobretudo às mulheres – que, por mais que os dias sejam duros, é possível acordar linda. Porque não existe um dia ou uma vida somente boa; ainda que se tente, a história não deixa.
// Paula Borghi
-
vistas da exposição







obras

felipe barsuglia: cansado
06 out - 21 out 2023
projeto colaborativo: projeto vênus na central galeria
-
Em parceria com o Projeto Vênus, temos o prazer em apresentar “Cansado”, exposição individual de Felipe Barsuglia na Central Galeria.
Em sua segunda individual em São Paulo, Barsuglia apresenta obras em diferentes mídias com um discurso pictórico para tratar do cansaço na sociedade contemporânea. Byung-Chul Han, em “Sociedade do cansaço” (2017, editora Vozes) designa o funcionamento das culturas ocidentais como o de uma “sociedade do desempenho”, onde a positividade imposta gera uma violência neural. Barsuglia observa uma cultura de repetição por meio do fazer quase que maquínico. No trabalho, na escola, em eventos sociais, no descanso, etc., os sujeitos estão cansados sem ao menos perceber, pois os cotidianos se tornam cada vez mais automáticos, não proporcionando abertura ao olhar diferente.
“Cansado” inaugura na próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, das 17h às 21h, na Central Galeria. No mesmo dia, após o encerramento na galeria, o evento seguirá no Cine Cortina até as 23h (entrada até as 22h) com a projeção de vídeos de Barsuglia produzidos desde 2014. A exposição é de curta duração e poderá ser visitada por duas semanas, até 21 de outubro.

show!
12 - 18 set 2023
projeto colaborativo entre central galeria, marli matsumoto arte contemporânea, mitre galeria e projeto vênus
-
De 12 a 18 de setembro, o Tropigalpão, na Glória, será ocupado com a mostra coletiva Show! e a individual Incorporama, da artista e educadora Dominique Gonzalez-Foerster
Quatro galerias de São Paulo e Belo Horizonte – Central Galeria, Marli Matsumoto Arte Contemporânea, Mitre Galeria e Projeto Vênus – se unem em um projeto inédito e autônomo, que apresentará, de 12 a 18 de setembro, uma grande mostra no Tropigalpão, na Glória, Rio de Janeiro. Serão mais de 60 obras, entre pinturas, objetos e instalações. Paralelamente, também será apresentada a exposição individual Incorporama, da artista e educadora francesa Dominique Gonzalez-Foerster.
As galerias somarão seus programas e as obras serão expostas por meio de núcleos temáticos e estéticos. Com isso, o público terá a oportunidade de conhecer e interagir com produções de Adriana Coppio, Carmézia Emiliano, Elvis Almeida, Isa do Rosário, Juan Casemiro, Lourival Cuquinha, Luana Vitra, Luciana Maas, Nilda Neves, Raphaela Melsohn, Yan Copelli, Wallace Pato, dentre outros.
Além disso, a mostra também terá a participação do coletivo ainda.brasil – que apresentará, pela primeira vez, múltiplos produzidos em colaboração com artistas como Rafael Alonso, Gokula Stoffel e Tiago Carneiro da Cunha, e uma publicação inédita do artista Yan Copelli – e do Atelier Xakra, conduzido pelos artistas Benedikt Wiertz e Joseane Jorge, que situa-se numa área rural ao pé da Serra da Moeda, em Minas Gerais, cuja matéria de trabalho é a cerâmica e o alimento. Em parceria com o cozinheiro Bruno Araujo, eles apresentarão o BISTRÓPICA, um restaurante com experimentações culinárias, oferecendo produtos de fermentação natural como pães, chucrutes, kimchis e outras delícias produzidas a partir de ingredientes locais e sazonais.
INCORPORAMA
Paralelamente à exposição coletiva Show!, a artista e educadora Dominique Gonzalez-Foerster apresentará a individual Incorporama, com curadoria de Pablo León de la Barra, que ocupará todo o segundo andar do Tropigalpão. A mostra apresenta um panorama de corpos em miniatura traduzidos e adaptados do ciclo das aparições (2012 - 2023), encarnações de personagens reais ou fictícios que inspiram e emocionam a artista, como Lola Montez, Fitzcarraldo, Ludwig II, Helen Frankenthaler, Marilyn Monroe, entre outros. “Os personagens circulam em diferentes estados e aparências. Um personagem se torna imagem, se torna aparição, se torna imagem de novo e, finalmente, chega em um novo corpo-figura”, explica a artista.



















gretta sarfaty: not your usual gretta sarfaty
19 ago - 30 set 2023
curadoria de clarissa diniz
-
Temos o prazer em apresentar NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY, individual de Gretta Sarfaty com curadoria de Clarissa Diniz na Central Galeria.
Nos anos 1970, Gretta Sarfaty produziu uma vastidão de autorretratos ao encarar a lente da câmera fotográfica como espelho. Fotografar-se foi, para a artista, uma forma de se enxergar e, a partir de manipulações de sua própria imagem, também um modo de se imaginar – de reinventar sua identidade, vida e horizontes.
Contudo, observar a si mesma esteve sempre acompanhada da certeza de estar sendo observada. Motivo de olhares voyeuristas e invasivos do patriarcado, Gretta compreendeu que, ao produzir auto-imagens, sua obra poderia ser igualmente um dispositivo para a mediação da miração alheia. NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY investiga, portanto, justamente esta torção nas políticas do olhar que atravessam sua poética.
Deixando de lado a ênfase na câmera como espelho, a exposição convida seus públicos a perceber como, ao longo das décadas de produção de Gretta, a lente da máquina fotográfica vai se tornando não só uma interface de autoconhecimento, como fundamentalmente um dispositivo de alteridade.
Nascida na Grécia, Sarfaty mudou-se com a família em 1954 para o Brasil, onde explorou várias linguagens artísticas contemporâneas desde meados dos anos 1960. Sua trajetória multimídia partiu de pinturas, gravuras e desenhos e se aprofundou nas linguagens da fotografia, da performance e do vídeo. Sua produção artística consolidou-se entre o Brasil, alguns países da Europa e os Estados Unidos ao longo de vários anos em cenas experimentais das artes visuais.
Além de exposições individuais e coletivas, Gretta tem obras em importantes acervos públicos e privados como: Museu Reina Sofia (Espanha), Centro Cultural Le Havre e Musée du Palais de Luxembourg (França), Serralves (Portugal), International Cultureel Centrum (ICC, Bélgica), Museo de Arte Moderna (MAM Equador), Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), Museu de Arte de São Paulo (MASP) e Pinacoteca de São Paulo.
-
Em entrevista[1], Gretta Sarfaty confessa que nos anos 1970, quando começou a se fotografar para na sequência deformar a própria imagem, fazia-o eminentemente para profanar sua condição de pretty face, o famoso “rostinho bonito”.
Objeto de incontáveis memes, conselhos de autoajuda, frases de lacração etc., hoje abundam nas redes sociais confissões de pessoas (em geral, brancas) que, aparentemente pouco cônscias de seus privilégios sociais, alegam enfrentar “dificuldades de vida” dado o preconceito que as “vitimiza” precisamente pela beleza de seus rostos.
Em que pese que entre Sarfaty e essas pessoas “sofridas porque belas” possa haver coincidências quanto aos privilégios raciais e de classe, o que a obra da artista nascida grega – mas que ainda na infância se mudou para o Brasil – nos revela é que foi justamente por meio da arte que Gretta, nascida pretty e Alegre tal como inscrito em seu nome[2], passou a desafiar não só a própria beleza como, fundamentalmente, os olhares daqueles que nela pareciam desejar enclausurá-la.
Sarfaty pertence à comunidade judaica, no seio da qual, como mulher, deveria cumprir o inquestionável rito de tornar-se esposa e mãe, dedicando a vida à manutenção da família; o que, no caso de Gretta, envolvia também o papel de servir ao status quo das elites. A beleza era, como se depreende, um dos ingredientes dessa normatividade social. Boniteza que se tornou central à crítica que Gretta passou a elaborar ao contexto que lhe serviu de berço, com o qual se manteve rompida ao longo de décadas e hoje experimenta reconciliações[3].
Já a partir de 1975, com as séries Auto-photos, Transformations e A woman's diary, o incômodo da artista se anunciava nas manipulações que fazia em seus autorretratos, deformando no campo da imagem o que depois buscaria desfigurar socialmente: a opressão às mulheres, ao seu corpo, à sua identidade e autonomia.
É desse período um pequeno desenho incluído nesta exposição. Nele, a artista confessa sua exaustão, rabiscando um autorretrato desabafado num “estou estafada”. Retrato que indicava igualmente sua situação emocional e as circunscrições sociais de mulheres como Gretta: “brancas casadas (...) de classe média e alta – donas de casa entediadas com o lazer, a casa, os filhos, as compras, que queriam mais da vida”[4], tal como define bell hooks ao delimitar os lugares de fala e os limites do feminismo branco das décadas de 1960 e 1970, incapaz de representar, por exemplo, as mulheres “sem homem, sem filhos, sem lar” – brancas de origem pobre ou, em sua maioria, negras.
Gretta, como outras mulheres brancas de sua classe social, era impedida de acessar o espaço público e de, nele, atuar como sujeito. Mantida em casa ou sob os cuidados da família patriarcal, experimentava uma forma de invisibilidade social que outras mulheres artistas – como sua contemporânea Tereza Costa Rêgo – retrataram por meio do muxarabi, uma espécie de treliça de herança árabe-islâmica que abunda nas construções coloniais brasileiras, em especial aquelas erguidas nas proximidades da virada para o século XX[5]. Tão fechado quanto aberto, o muxarabi joga com a luz de forma a permitir, a quem está no interior de uma casa como as das elites do Brasil, ver sem ser visto; ver a rua sem ser por ela percebido. Trata-se, portanto, de um dispositivo de controle especialmente aplicado aos corpos das mulheres brancas, mantidas sob uma espécie de cárcere doméstico a despeito de seus inegáveis privilégios.
Diante de tal contexto, era com o feminismo e com o ativismo de mulheres artistas que àquela época Gretta se identificava. Ainda que não integrasse diretamente algum grupo ou organização feminista, sua obra habitava o campo dos problemas e dos interesses caros ao feminismo, razão pela qual pesquisadoras como Talita Trizoli e Mirtes Marins têm dedicado leituras a essa filiação histórica e política.
É ansiando colaborar com tal leitura que esta exposição vai além da vastidão de autorretratos que Sarfaty produziu ao encarar a lente da câmera fotográfica como espelho para sublinhar que, em sua obra, a observação de si mesma esteve sempre acompanhada da certeza de estar sendo observada.
Motivo de olhares voyeuristas e invasivos do patriarcado, Gretta compreendeu que, ao produzir auto-imagens, sua obra poderia tornar-se igualmente um dispositivo para a mediação da miração alheia. NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY investiga esta torção nas políticas do olhar que atravessam sua poética.
Buscando expandir a ideia da câmera como espelho, a exposição convida seus públicos a perceber como, ao longo das décadas de produção de Gretta, a lente da máquina fotográfica foi se tornando uma interface de autoconhecimento e de reinvenção identitária diante das opressões às mulheres, assim como, fundamentalmente, um dispositivo de alteridade.
Para Sarfaty, o gesto de se olhar e de produzir a própria imagem tem sido não apenas forma de se ver ou de se mostrar, como também estratégia de defesa diante da mirada do outro. Por entre desenhos nos quais suprime rostidades, fotografias como as da série Lembranças metamórficas (1979) ou pinturas como Lembranças evocativas (1981), testemunhamos Sarfaty dar as costas às visadas que sobre ela incidem, ou apagar seu rosto para que não possamos com ela cruzar olhares.
Assim, para além de sua capacidade de espelhamento, nas obras reunidas em NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY vemos a lente da câmera fotográfica tornar-se um anteparo que é combinado a véus, rendas, vapores, grafismos, hachuras: estratégias físicas e simbólicas para diluir e confundir o olhar alheio ao camuflar o corpo no ambiente (Spresiano Shower in the Thai-Si, 2020), a figura no fundo (Metamorphosis, 1973-1979), a mulher no bicho (Evocative Recollections, 1978).
Na virada para os anos 1980, quando os véus se tornam mais comuns na obra de Gretta – a exemplo de Evocative Recollections, performance realizada dentro de uma cama circundada por uma espécie de mosqueteiro rendado –, vemos sua profusão complexificar o imaginário da sedução ou do fetiche do corpo feminino recoberto por lingerie ou vestido de véu e grinalda. Como demonstra o uso de rendas diversas na obra de Gretta, os véus se tornam planos que recobrem sua imagem quando pintada ou fotografada, funcionando como anteparos que são, ao mesmo tempo, defesa e adorno, estratégias de encantamento e repulsão. Uma espécie de muxarabi cujo controle estava, desta vez, na mão da artista.
Mais adiante, a exposição apresenta trabalhos nas quais a artista efetivamente vira a câmera para o outro lado, invertendo as perspectivas dos olhares machistas que historicamente invadem, fetichizam e violam as mulheres. Ao fazê-lo, opera um revide voyeurista: a inversão de forças e agências entre olhar e ser olhada, sujeito e objeto, homens e mulheres, que é evidente em desenhos, retratos e projetos como My single life in New York (1987) e Through a glass darkly (2010). Neles, é Gretta quem observa os homens, expondo-os como objetos tal qual, tradicionalmente, as mulheres o têm sido.
A seu modo transfigurando o Étant donnés (1946-66) de Marcel Duchamp, em Through a glass darkly a artista exibe seu então marido, nu, trabalhando – e faz da atividade profissional de seu cônjuge a sua obra de arte. Por sua vez, em My single life…, Sarfaty publica nos jornais de Nova York alguns anúncios em busca de homens que porventura fossem de seu interesse afetivo e sexual.
Iniciando seus comunicados com "NOT YOUR USUAL ADVERTISER", a artista não apenas descreve as qualidades de sua já conhecida pretty face a fim de atrair “pretendentes”, como sobremaneira indica, no anúncio, os atributos que ironicamente revertiam, em demanda para corpos masculinos, a normatividade estética aplicada às mulheres. Aos anúncios seguiram-se alguns dates devidamente filmados pela artista, redirecionando o voyeurismo que tanto a assolava. Trata-se, dentro daquele universo cis, de uma provocativa crítica à sujeição feminina, calcada não somente na denúncia da opressão, mas principalmente na criação de estratégias de agência que tomam a arte como território, dispositivo, método.
NOT YOUR USUAL GRETTA SARFATY sublinha, portanto, as circunscrições de gênero e de classe que estão implicadas na obra da artista e nas políticas do olhar que a atravessam. Ao expor retratos de seus ex-maridos na forma de desenhos e de vídeos nos quais eles surgem nus, posando como "majos desnudos"[6], Gretta perfaz um gesto central em sua trajetória política e poética: transfigura o feminismo que no princípio de sua obra parecia autorreferente, abrindo espaço para uma abordagem crítica das masculinidades.
Ao invés de ad nauseum expor a si mesma em movimentos de dimensões narcísicas, compreende que é preciso ir além do pretty face e suas correlatas normatividades estéticas. Ao expor as tensões entre marido e mulher – como nos desenhos do começo da década de 1970 nos quais, por exemplo, uma mulher carrega um homem no colo –, Gretta Sarfaty elabora sua crítica à branquitude machista das elites econômicas.
Enquanto sabe estar falando desde os lugares de privilégio (não sem opressões) do feminismo branco, Gretta acompanha, com sua poética, a luta das mulheres pela emancipação, pela autonomia e pelo direito de existir para além dos espaços domésticos e privados – densamente preenchidos por olhares tão íntimos quanto aprisionadores.
Clarissa Diniz, 2023
[1] Harry Pye asks Gretta Sarfaty Marchant 12 Questions. Entrevista que integra o livreto Gretta's Progress. Sartorial Art, Londres, 2008.
[2] Gretta Alegre Sarfaty.
[3] Reconciliações é o título de uma exposição individual de Gretta Sarfaty no IAB SP – Instituto de Arquitetos do Brasil, realizada em 2020 e curada por Fábio Magalhães.
[4] HOOKS, bell. Moldando a teoria feminista. In: Revista Brasileira de Ciência Política, n.1. Brasília jan./abr. 2015. p.193-210.
[5] “Os artistas viajantes que estiveram no Brasil notaram, sobretudo na Bahia e no Rio de Janeiro, o sistema de arquitetura das janelas em muxarabi. (...) As mulheres ficavam por trás dessas janelas e por elas se comunicavam com o mundo exterior (...). Assim, o muxarabi era um dispositivo da dominação masculina, um símbolo do lugar social das mulheres de classe média e da elite. Para muitas mulheres, dedicar-se à arte como meio de expressão foi uma forma de romper e superar a cultura do muxarabi, libertar o olhar levando o imaginário para além do ambiente doméstico em que estavam confinadas. Realizaram, assim, o desejo de tornar visíveis suas impressões do mundo.” Paulo Herkenhoff no texto curatorial da mostra “Invenções da mulher moderna, para além de Anita e Tarsila” no Instituto Tomie Ohtake, em 2017.
[6] La Maja Desnuda (1800), obra de Goya, é uma referência central na poética de Gretta Sarfaty, que em 1985 realizou uma cena intitulada Goya Time em torno da icônica pintura.
-
vistas da exposição











obras

c. l. salvaro: enquanto
01 jul - 05 ago 2023
texto fabrícia jordão
-
Temos o prazer em apresentar Enquanto, individual de C. L. Salvaro na Central Galeria.
Com texto crítico de Fabrícia Jordão, a exposição reúne objetos encontrados e ressignificados pelo artista, assim como trabalhos realizados para dialogar diretamente com o ambiente da galeria.
Sede do histórico Clubinho dos Artistas e desde 2015 tombado pelo Iphan, o subsolo que abriga a Central Galeria, no prédio do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), em São Paulo, oferece um espaço que supera o cubo branco pela presença de quatro pilares marcantes do final da década de 1940 e pelos quase 15m de parede com concreto aparente. Salvaro não tenta maquiar nada. Assume a presença do lugar e intervém na arquitetura, afim de desvelar o que está velado e colocar em dúvida o que pertence ou não ao espaço expositivo.
Jordão observa que o artista “lança mão de procedimentos recorrentes: opera por meio de processos de deslocamentos, acomodações, incorporações, desintegrações, estruturações, fragmentações, junções, rupturas, adição, subtração, sobreposição”.
C. L. Salvaro nasceu em Curitiba, em 1980. Suas exposições incluem as individuais: Antes de afundar, flutua, projeto especial apresentado pela Central Galeria (São Paulo, 2021); Eira alheia, Central Galeria (São Paulo, 2018); Ybakatu Espaço de Arte (Curitiba, 2018 e 2007), Memorial Minas Gerais Vale (Belo Horizonte, 2015); CCSP (São Paulo, 2005). Entre suas coletivas, destacam-se: 13ª Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 2022); Frestas – Trienal de Artes, Sesc Sorocaba (Sorocaba, 2017); Region 0 - The Latin Video Art Festival, New York University (Nova York, 2013) e Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Vigo, Espanha, 2013); 6ª VentoSul – Bienal de Curitiba (Curitiba, 2011); Biennale de Québec - Manif d’art 5 (Quebec, 2010). Seus prêmios e residências incluem: Prêmio Impact, Fundação Eckenstein-Geigy/Liste (Basel, 2021); Prêmio Foco Bradesco ArtRio (Rio de Janeiro, 2017); Geumcheon Artspace (Seul, 2018); Bolsa Iberê Camargo – Fundação Iberê Camargo/CRAC Valparaiso (Chile, 2013); Bolsa Pampulha (Belo Horizonte (2010-2011). Sua obra está presente nas coleções: MAR (Rio de Janeiro), MAC-PR (Curitiba) e MuMA (Curitiba).
-
O ano era 2011. Cleverson Salvaro havia sido um dos dez selecionados para a 4ª edição do Bolsa Pampulha, projeto criado em 2003 pelo Museu de Arte da Pampulha em Belo Horizonte. Na ocasião, o artista conversou com Ana Paula Cohen, curadora da edição 2010/2011. Quando indagado sobre quando e como havia iniciado sua produção artística, o artista apresentou uma espécie de declaração de princípios:
Compreendi que para mim não era necessário um aprofundamento em qualquer técnica, nem a busca de uma linguagem específica, pois cada trabalho exigiria uma demanda. A cada passo, eu refletia sobre o lugar onde o trabalho estava sendo inserido, quais as motivações para sua realização, e a partir disso eu poderia compreender o que seria necessário para realizá-lo (...)¹.
Hoje, passados doze anos, Salvaro se mantém coerente a esse statement e segue operando no interior de sua complexidade conceitual. Por um lado, recusa todo e qualquer tipo de procedimento que converta o trabalho artístico em uma especialidade ou o seu resultado em uma excelência técnica. Por outro, compreende a arte como uma confluência material e imanente. É mobilizado por esses imperativos que o artista lança mão de procedimentos recorrentes: opera por meio de processos de deslocamentos, acomodações, incorporações, desintegrações, estruturações, fragmentações, junções, rupturas, adições, subtrações, sobreposições.
Grande parte de seus trabalhos parece decorrer de uma lógica procedimental que não se ocupa com ideias de forma, e, sim, com interesses relacionais – traçando instáveis e improváveis relações entre uma multiplicidade de objetos e materialidades, muitos dos quais encontrados, coletados e acumulados pelo próprio artista.
Dessa perspectiva, em seu processo, o gesto instalativo é transmutado em ato construtivo que não persegue o acabado, o permanente, o estável. Pelo contrário, instaura o provisório e o aberto.
Por privilegiar um procedimento que não só acolhe como deseja o acaso, seu processo artístico nunca é determinista. Nisso reside uma espécie de coerência lógica: arranjos relacionais provisórios, já que abertos aos acasos, e efêmeros, já que abertos às contingências. Por essa característica, seus trabalhos são muito mais da ordem da apresentação do que da representação. E, sendo da ordem da apresentação, também podem ser pensados como um esquema conceitual, já que diante da não representação a linguagem entra em um impasse. A cada nova proposição, nos é lançado o desafio de situar, inscrever, traduzir em linguagem algo que a excede. Assim, em seus desdobramentos teóricos, seus trabalhos também ampliam o campo do possível na arte.
Ao mesmo tempo, argumentar que os trabalhos de C. L. Salvaro são da ordem da apresentação também significa dizer que eles comportam uma ideia de arte como um acontecimento e, como tal, são instauradores de uma situação intempestiva que só pode se efetivar no interior do campo relacional que lhe é constitutivo. Efetivamente, seus trabalhos demandam mais do que uma mera presença. Somos convocados a nos implicar fisicamente, em um horizonte de experiências sensíveis que perpassa tanto a realidade material onde se situam como as materialidades que os constituem e as nossas próprias subjetividades. A partir dessa convocação, diante de seus arranjos relacionais, somos seduzidos a nos movimentar, a adentrar e a coabitar seu estranho corpo. A entrar em uma relação – sempre desassossegada – com o desconhecido.
Desse modo, seus arranjos relacionais, por serem ato, realização e apresentação, impelem-nos a lidar com uma forma própria. Isso significa dizer que seus trabalhos são avessos às traduções, já que tratam de uma verdade ainda não abarcada pelo conhecimento. Em consonância com a realidade em potência e com a materialidade provisória, afirmam-se sempre e primeiramente como possiblidade de arte.
Do mesmo modo, por ser indócil à língua e à linguagem, os arranjos relacionais de Salvaro também não entram em acordo com nossas definições sobre o artístico, realizando uma nova possibilidade para a arte. Nesse sentido, pode-se propor que, em sua materialização, os trabalhos de Salvaro extrapolam o dado exclusivamente conceitual, formal, político ou ideológico. Como formas impuras e abstratas (já que da ordem da apresentação), recusam igualmente a pedagogia, a ilustração e o engajamento. Com autonomia e insubordinação, não caem nos equívocos das produções contemporâneas ditas políticas.
Por fim, resta dizer que qualquer reflexão acerca dos trabalhos de Salvaro deve ser necessariamente aberta. Se ainda assim insistíssemos em endereçar um fechamento, o único possível seria pensar os trabalhos do artista como a realização radical da exigência que Alain Badiou dirige à arte não-imperial. Para o filósofo, a arte não-imperial é aquela que, por operar fora da síntese entre formalismo e romantismo, corrente dominante na arte contemporânea, assume como desafio “(...) ser tão rigorosa como uma demonstração matemática, tão surpreendente como uma emboscada na noite, e tão elevada como uma estrela”².
Fabrícia Jordão, 2023
1. C. L. Salvaro em entrevista a Ana Paula Cohen. Originalmente publicado no catálogo da Bolsa Pampulha 2010-2011. Belo Horizonte, 2011. Disponível em: https://salvaro.tumblr.com/textos/ana_paula_cohen.
2. Alain Badiou, 15 teses sobre arte contemporânea. Transcrição de fala do autor no Centro de Desenho de Nova Iorque em dezembro de 2013. Disponível em: https://lavrapalavra.com/2016/10/28/quinze-teses-sobre-arte-contemporanea/.
-
vistas da exposição









obras

artur barrio: o sonho do arqueólogo: ...uma tênue linha inexistente...entre dois espaços...existentes...enquanto...que...opostos...a si...
20 mai – 17 jun 2023
-
Antes da arte, Artur Barrio desejou ser arqueólogo submarino.
Hoje, o artista vive em um barco sobre as águas da Baía de Guanabara e produz de forma solitária. Esquematiza em diversos papéis a possibilidade de uma ideia, que não necessariamente será seguida; tais papéis, no entanto, acompanham-no na realização de cada trabalho. Produz diretamente nos espaços expositivos, sem espectadores.
Possibilita, dessa forma, acessar a reclusão tal qual o homem de Lascaux ou da Caverna de Cosquer, podendo, assim, produzir de forma que as noções de consciência e inconsciência deixam de fazer sentido. Ao mesmo tempo, com o experiente olhar de quem estuda a vida em sociedade, produz para apresentar ao público. Dispensa o valor de culto do homem primitivo e esgarça o campo do possível na arte contemporânea. Ainda que as sensações sejam reais, acessar o seu trabalho pode ser uma experiência quase onírica, surreal.
“Em meu trabalho, as coisas não são indicadas (apresentadas), mas sim vividas, e é necessário que se dê um mergulho, que se o mergulhe/manipule, e isso é mergulhar em si”, escreve Barrio no texto “Lama/carne esgoto”, de 1970.
Aos 78 anos, o artista segue defendendo a experiência através da arte. Sua linguagem se faz no tempo. Sua produção se reinventa a cada nova situação criada.
Para a Central Galeria, Barrio produz um monólogo cujo procedimento de elaboração, pela primeira vez, será realizado ao lado dos trabalhadores da galeria. Enquanto Barrio trabalha construindo a exposição, a equipe seguirá em seu trabalho cotidiano de escritório. Segundo o artista, ainda que seja definida uma linha invisível a separar os afazeres de equipe e artista, o processo não deixa de criar uma relação entre as partes pelo estorvo mútuo. O artista pretende ainda colocar em cena pó de café, luz baixa e um texto-lamento, transformando a galeria na caverna de um intelectual que deixa os rastros do gesto selvagem do laboro sobre uma pobre mesa e pelas paredes escritas à exaustão.
Artur Barrio nasceu em Porto, Portugal, em 1945. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1955 e residiu posteriormente em diversos países na Europa e na África, retornando ao Rio em 1994, onde vive e trabalha desde então. Foi vencedor do prestigiado Prêmio Velázquez em 2011 e representou o Brasil na 54ª Bienal de Veneza no mesmo ano. Seu extenso currículo inclui ainda a 11ª Documenta de Kassel (2002), a Bienal da Coréia do Sul (Kwangju, 2000) e a Bienal de Havana (1984), além de diversas participações na Bienal de São Paulo (2013, 2010, 2004, 1998, 1996, 1994, 1985, 1983 e 1981). Já realizou individuais em instituições como: Museo Reina Sofía (Madri, 2018), Museu de Serralves (Porto, 2012 e 2000), Museo Tamayo (Cidade do México, 2008), Palais de Tokyo (Paris, 2005), FRAC (Marselha, 2005) e MAM Rio (Rio de Janeiro, 2001), entre muitas outras. Suas obras integram importantes coleções públicas, como: MoMA (Nova York), Centre Pompidou (Paris), SMAK (Gent), Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto), Inhotim (Brumadinho), MAM Rio (Rio de Janeiro) e Pinacoteca de São Paulo (São Paulo), entre outras.
-
vistas da exposição

















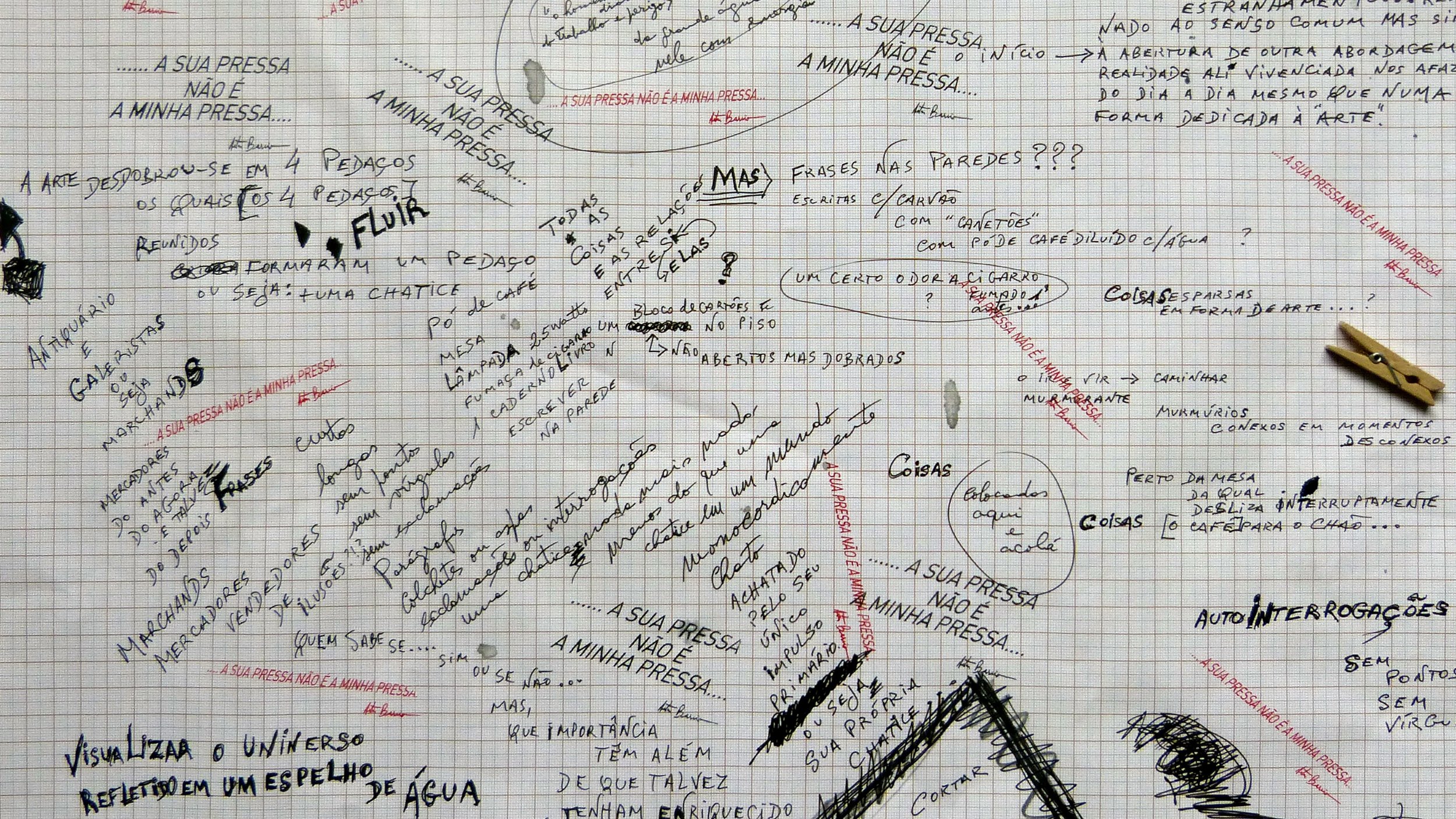


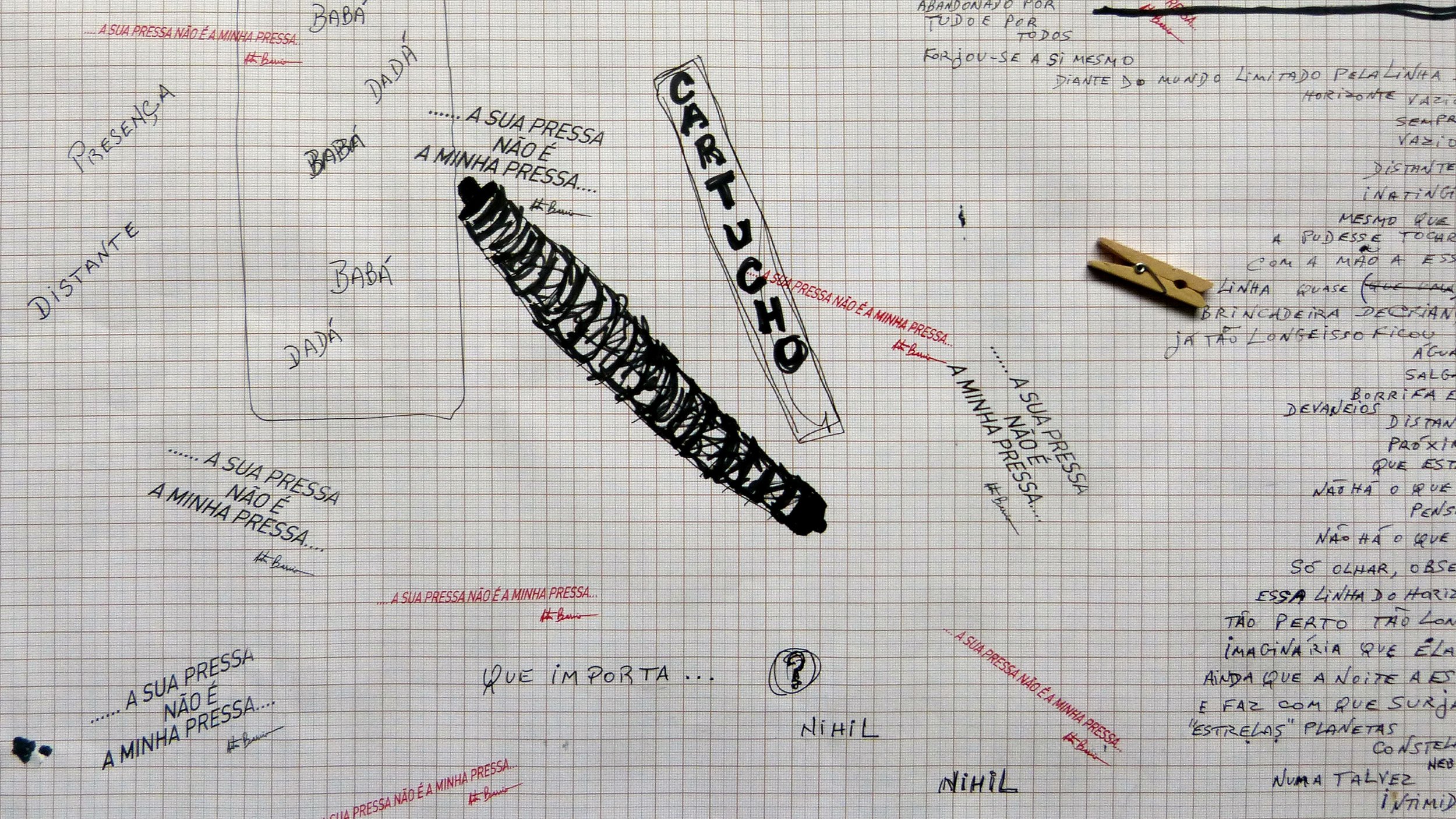
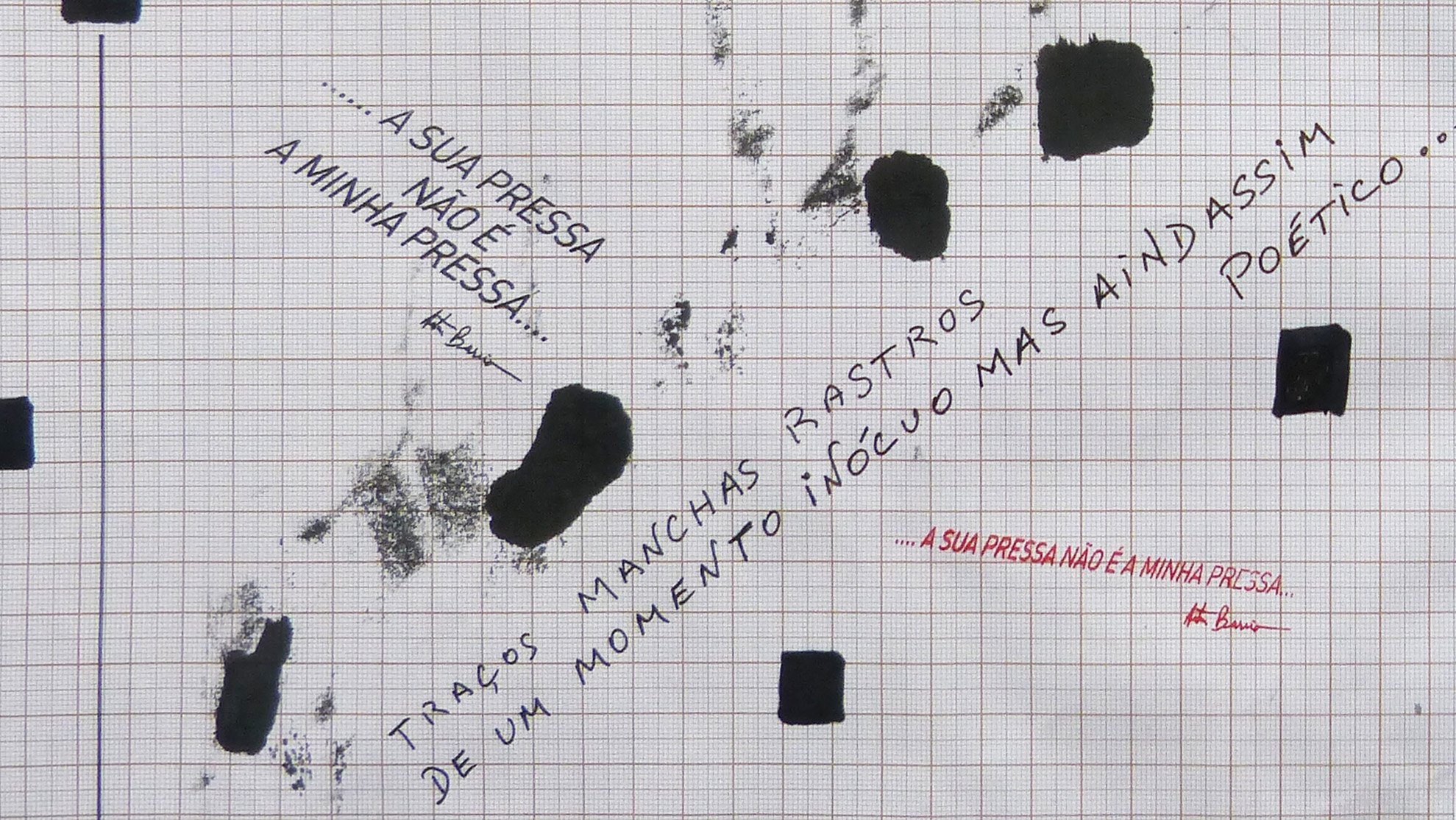
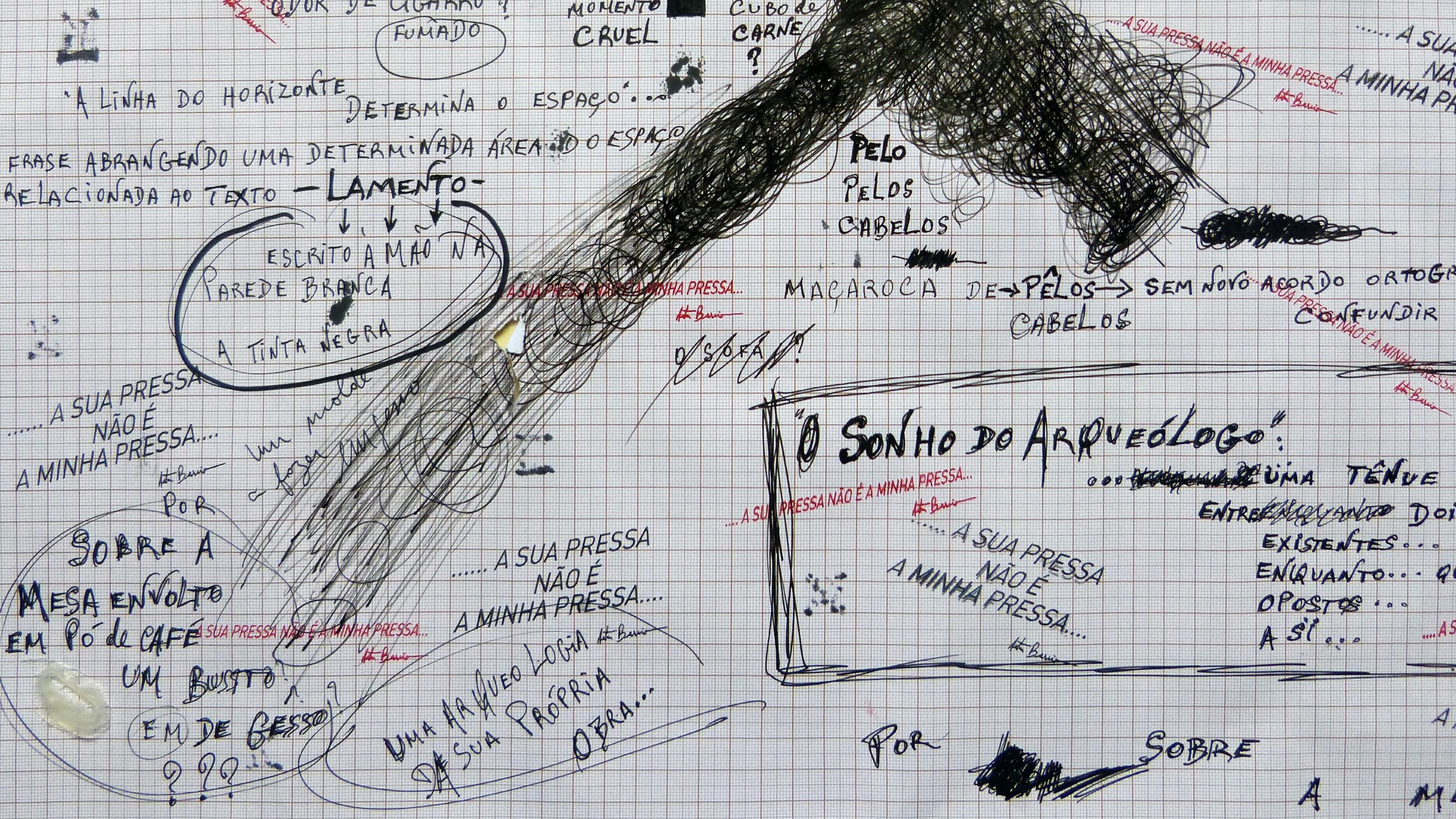

nilda neves: visagens e assombros do sertão
25 mar – 06 mai 2023
curadoria de lisette lagnado e rivane neuenschwander
-
A exposição ‘Visagens e assombros do sertão’, primeira individual da artista na Galeria Central, reúne mais de vinte pinturas, em sua maioria inéditas, de 2010 até hoje.
Bisneta da Sia Simplícia, de origem tupi-guarani, Nilda Neves cresceu na Fazenda Patos. Primogênita dos cinco filhos de Ana Rita Neves, passou a infância e a juventude acompanhando, toda topetuda, os negócios de seu pai Osvaldo, descrito na figura de um trabalhador implacável, peão e lavrador forte, [que] derrubava boi pelo rabo.
Frequentes foram os deslocamentos, provocando novos cálculos de rota. Já casada, mudou-se para a cidade de Brumado, conhecida como a Capital do Minério, próxima de Aracatu e Anajé. Com formação em contabilidade, chega em São Paulo em 1999. Foi dona de lanchonete em Taipas (subdistrito de Pirituba), trabalhou como comerciante, manicure e cabelereira no salão Dallas da Rua Cardeal Arcoverde, até mudar-se para Camanducaia, no interior de Minas Gerais, onde constituiu um ateliê-morada, com quintal, horta e uma coleção de arbustos trazidos da Bahia.
Artista multidisciplinar, Nilda Neves estudou contabilidade e foi professora de matemática, comerciante, cabeleireira, entre outras profissões, antes de se dedicar às artes visuais e à literatura. Seu trabalho está intimamente vinculado à memória e à narrativa oral: cada figura, animal ou trecho de paisagem em suas telas corresponde a um "causo". Histórias do tempo de seu avô, no sertão da Bahia, revelam-se em cenas curiosas com cangaceiros, personagens folclóricos ou do cotidiano que, juntos, engendram um universo fantástico.
Nilda Neves nasceu em Patos, município de Botuporã (BA), em 1961. Atualmente vive e trabalha em Camanducaia (MG). Já realizou as individuais: Sertão em devaneios, Centro Cultural Santo Amaro (São Paulo, 2019); Narrativas do sertão, Face Gabinete de Arte (São Paulo, 2018); e Meu Sertão, Galeria Mezanino (São Paulo, 2015). Entre as exposições coletivas, destacam-se: Alegria, uma invenção, Central Galeria (São Paulo, 2022); Modernismo desde aqui, Paço das Artes (São Paulo, 2022); Tudo o que você me der é seu, Central Galeria (São Paulo, 2020); O Sagrado na Arte Moderna Brasileira, Museu de Arte Sacra (São Paulo, 2019); além de diversas edições da Bienal Naïfs do Brasil, Sesc Piracicaba (2020, 2018 e 2016). Sua obra está presente nas coleções do MAR (Rio de Janeiro), MAC-USP (São Paulo) e MACS (Sorocaba).
-
Visagens e assombros do sertão ou “Guaxinim não é besta pra subir em mandacaru!”
Curadoria: Lisette Lagnado e Rivane Neuenschwander
A exposição “Visagens e assombros do sertão”, primeira individual da artista na Galeria Central, reúne dezoito pinturas, em sua maioria inéditas, de 2010 até hoje.
Bisneta da Sia Simplícia, de origem tupi-guarani, Nilda Neves cresceu na Fazenda Patos. Primogênita dos cinco filhos de Ana Rita Neves, passou a infância e a juventude acompanhando, toda topetuda, os negócios de seu pai Osvaldo, descrito na figura de um trabalhador implacável, peão e lavrador forte, [que] derrubava boi pelo rabo.
Frequentes foram os deslocamentos, provocando novos cálculos de rota. Já casada, mudou-se para a cidade de Brumado, conhecida como a Capital do Minério, próxima de Aracatu e Anajé. Com formação em contabilidade, chega a São Paulo em 1999. Foi dona de lanchonete em Taipas (subdistrito de Pirituba), trabalhou como comerciante, manicure e cabeleireira no salão Dallas da Rua Cardeal Arcoverde, até mudar-se para Camanducaia, no interior de Minas Gerais, onde constituiu um ateliê-morada, com quintal, horta e uma coleção de arbustos trazidos da Bahia.
Livro vivo
Gostaria de introduzir Nilda Neves como uma artista que, ao se colocar no mundo, torna sua presença uma referência indispensável. Entendi o valor da apresentação com a poeta feminista Audre Lorde, que se insurgiu contra a violência do silêncio – silêncio, por sinal, defendido pelo patriarcado branco. Lorde elevou sua voz para afirmar a condição de negra, mulher, mãe e lésbica, um mix de interseccionalidade que a crítica de arte no Brasil balbucia timidamente. Dito isso, o itinerário de Nilda Neves importa porque nos fornece a matéria de seu sertão, povoado de lutas e sonhos, esse sertão que nunca dorme.
Leitora e fã de uma vasta lista de autores (Ariano Suassuna, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, entre muitos), Nilda Neves, por sua vez, revela-se na linhagem da tradição oral, como um livro vivo, guardiã de tantas paixões atiçadas pela brasa do sol nordestino. Entre seus escritos, destaca-se O Lavrador do Sertão (2011), cuja trama se desenrola em Aramado, colado à serra de Taperipó: “Aramado não era vila e nem vilarejo, era um lugar. Era uma aldeia diferente, onde as casas foram construídas em círculo e formavam uma circunferência, no que limitando seus quintais, se separavam uma das outras. Lá, a cultura dos índios se misturou com a cultura dos negros. Casaram. Tornou-se única. Daí uma das razões ser ele místico e encantado.”
O “místico” e o “encantado” são também os principais ingredientes de uma oratória carismática, permeada de texturas semânticas e sonoras (ochem, fi duma égua!). Nilda Neves escoa sua gana de expressão inspirada pela mesma força telúrica que surge da paisagem de um Guimarães Rosa ou, ainda, que governa os personagens de Itamar Vieira Junior. Sua prosa é um convite à viagem pela geografia humana de um Brasil deslumbrante, alimentado por conflitos sociais, religiosos, amorosos, poemas épicos de um tempo heróico. Com eles, aprende-se a rir e uma série de truísmos maravilhosos (“a arma mais forte do mundo é a fé”), sem esquecer a intensidade das xingações (“Credo em cruz três vezes!”). Em sua companhia, impossível deixar de evocar o cantador Elomar pelo apego à terra, que assume um engajamento moral, impregnado de exaltação e fúria contra a ideologia do progresso.
O requinte das descrições da vida sertaneja não deixa de elogiar suas mil e uma Marias. Ainda que denominadas “mulheres de Atenas”, conseguem desafiar a autoridade do pai e do marido. Somos logo capturados por uma profusão de espécies de árvores, bichos, frutos e frutas, arquiteturas rurais, santos, objetos e instrumentos musicais. A paixão pela língua se traduz na explosão de jacus e jiquitaias, na diferenciação entre lamparinas, candeeiros e lampiões, no reconhecimento de instrumentos musicais diversos, bumbos, cavaquinhos, sanfonas, pandeiros, violas, berimbaus, gaitas, flautas, violões... Palavras dignas de um diálogo entre Sócrates, Hermógenes e Crátilo: uma loucura perceber que os homens podem estar ressequidos pelo sol e a fome, mas não lhes faltam as palavras para nomear cada coisa que Deus colocou nesse mundo.
Pintura memorialista
Entretanto, obstáculos e imprevistos não faltaram ao longo desse percurso singular. A história que deu origem à carreira de pintora é emblemática nesse sentido. Por conta da capa de seu primeiro livro independente, que precisaria ser encomendada e remunerada, Nilda Neves tomou para si uma tarefa inusitada: pintou um mandacaru, conseguiu vendê-lo e viabilizou a publicação. O episódio seria apenas anedótico, não fosse a inusitada emergência de possibilidades desencadeadas a partir da superação de um problema. Essa realização permitiu que Nilda Neves se lançasse na investigação de uma linguagem desconhecida, a despeito da ausência de qualquer aprendizagem prévia. Sem sabê-lo, estava respondendo ao princípio ativo da encruzilhada que, segundo a cultura iorubá, proporciona ensinamentos emancipatórios.
Capacidade de autotransformação à parte, interessa observar agora a manifestação das qualidades pictóricas para além de um desses acasos intangíveis que precipitam reviravoltas do destino. Qual a participação da tradição oral na constituição de cada tela? Como a poesia e a literatura contribuem nessas composições?
Em primeiro lugar, nota-se que mais de meio século no interior da Bahia engendrou um legado exuberante de vivências pautadas pela riqueza da vegetação e da fauna. Nesse sentido, olhar para uma pintura de Nilda Neves exige um bocado de quem só cresceu na cidade industrializada e não saberia reconhecer o porte de uma tatarena, faveleira, juazeiro, umbuzeiro, baraúna, jequitibá, gameleira, macambira, gravata, aroeira, folhas de licuris, xique-xique, palmas, pinhas, pimentas, mamões...
Frequentes, os títulos das obras incorporam a forma do gerúndio, indicando uma multiplicidade de atividades – essa força colossal chamada cotidiano – vaqueiros, lavadeiras, e candomblecistas para quem a lógica da vida se dá na benção do movimento repetido: batendo o feijão de corda, fazendo fumo, fazendo farinha, passando roupa, guardando cristais em gruta, guardando adobão, levando almoço, pilando arroz, tirando leite, descansando na pedra, levando água, castrando o cabra, desarmando arapucas, catando feijão, laçando o boi, tirando o couro do bode, destrinchando porcos, fazendo cocho, arrancando um dente, pescando, e até mesmo, divagando...
Apesar da abundância de temas, o assunto é um só: a vida sertaneja! O inventário se organiza em torno de cenas domésticas, uma variedade muito precisa de utensílios (de tuias a balaios), lugares de peregrinação (as grutas de Bom Jesus da Lapa, por exemplo), arquiteturas surpreendentes (um cemitério bizantino em Mucugê), personagens religiosos (São Jorge), do folclore (saci, lobisomem), sobrenaturais (nego d’água), seres míticos de modo geral, fusões amorosas entre humanos, não humanos, ... e até o diabo a quatro, diria ela.
Como saber tanto sem ter estudado, é a interrogação que atravessa copiosos relatos familiares trazendo à tona histórias sem fim de um avô tropeiro até a mãe, ex-pastora de cabras e ovelhas, que se tornou dona-de-casa, mulher braba, arrancava o couro, fazia uma cerca muito bem, castrava sozinha, lavava, bordava, tecia, benzia, atirava muito bem.... Dessa ancestralidade vieram os incontáveis causos que, desde 2010, irrompem em tinta óleo sobre telas. Entre uma conversa e outra, madrugada adentro, ficamos sabendo de como eram ricas as pessoas do vilarejo – naquele tempo quem tinha cabeças de gado, fazenda, roça, o povo era rico – e que morreram todas, a maioria tudo doido.
Nilda Neves pinta de memória histórias vividas, outras que apenas ouviu. Da emoção da escuta jorram imagens que são transpostas diretamente sobre a tela, sem um desenho prévio. Estabelece uma diferença entre “visagens” e “aparições” quando procura explicar as fontes que animam suas formas. Linhas retorcidas, tensionando a fronteira de um eventual surrealismo tropical, mesclam fatos ilustres com profecias populares e ficções científicas.
Engana-se quem procurar uma ilustração oficial de acontecimentos históricos sem identificar a subjetividade política que escorre das manchas cromáticas. Basta olhar os urubus da sua pintura mais recente sobre Canudos para perceber como alguns deles estão gordos de tanto comer soldados. E, para Nilda Neves, que sempre andou “com o frenesi no couro”, seus irmãos canudenses simbolizam a bravura de um povo: Eles tinham armas, nos tínhamos a astúcia. Entrar na caatinga não é prá qualquer um. A vegetação maluca endoidou os militares de tal modo que perderam três vezes prá gente. Vencemos três vezes a guerra com badoque. Só na Bahia mesmo!
Sabe-se quão raro é conhecer artistas com projeto. Mas, se a arte contemporânea dispensou a necessidade de um projeto que justifique seus fins, não se pode afirmar o mesmo de Nilda Neves. No seu caso, escrever e pintar correspondem à firme intenção de narrar experiências que possam constituir um acervo a ser compartilhado. Não lhe falta imaginação para nos contar sua perspectiva da invasão do Brasil, a procedência da Pedra de Bendegó, a Seca de 1932 e a construção de campos de concentração, histórias do baiano que foi para a Lua, do bilionário Elon Musk coexistindo com as carrancas das embarcações do rio São Francisco...
Suas incursões artísticas buscam elevar em patrimônio as reminiscências à resistência coletiva de um povo que ri até da morte. Síntese entre um ímpeto memorialista (fixar tradições que a modernidade foi apagando) e um dom por fabulações saborosas, o fluxo das histórias segue a deriva de uma jornada pontuada de violência, comicidade incluída. Evitar que uma memória coletiva perca a cor e o viço, aspiração das mais louváveis em tempos de amnésia generalizada. De como eram as coisas antigamente, fundamenta, sem que a saudade lhe sirva de álibi para esmorecer.
Não é difícil então compreender a visceralidade da entrega da artista ao seu ofício. Há algo de uma raiva produtiva que remete ao drive de Lorde no combate à colonialidade e a seu racismo intrínseco. Posso garantir que é um privilégio escutar a autora lendo seus próprios escritos e, do lado de cá, tentar encontrar nas telas a atmosfera que um vocabulário altamente requintado consegue transmitir. Como nesse trecho, extraído de “Preparação da Terra Seca”, que descreve um cenário quase cinematográfico: “Chegava setembro e o céu do sertão se turvava embaralhado numa mistura de cores, onde sob o amplo céu azul, as nuvens vermelhas, naturais da seca, se misturavam com os tufos roliços de fumaças negras alavancadas pelas forças implacáveis das labaredas que, mesmo não tendo asas, faziam riscar nos ares, cobras e papa-ventos.”
No manejo das palavras e dos pigmentos, Nilda Neves alcançou aquilo que Belonísia, em Torto arado, só iria compreender anos depois da tragédia:
“Se soubesse que tudo que se passa em meus pensamentos, essa procissão de lembranças enquanto meu cabelo vai se tornando branco, serviria de coisa valiosa para quem quer que fosse, teria me empenhado em escrever da melhor forma que pudesse. Teria comprado cadernos com o dinheiro das coisas que vendia na feira, e os teria enchido das palavras que não me saem da cabeça. Teria deixado a curiosidade que tive ao ver a faca com cabo de marfim se transformar na curiosidade pelo que poderia me tornar, porque de minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para nosso povo, para nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas na cidade.”[1]
[1] Cf. Itamar Vieira Junior, Torto arado. São Paulo: Todavia, 2018 (p. 170).
-
vistas da exposição









obras

dan coopey: o duplo
04 fev – 11 mar 2023
texto victor gorgulho
-
Temos o prazer de apresentar O Duplo, a primeira exposição de Dan Coopey na Central Galeria. Empregando técnicas milenares da cestaria e materiais como sisal, juta, bananeira e lúpulo, o artista exibe uma série inédita de trabalhos escultóricos que estabelecem uma estreita relação com o corpo.
Nascido em uma cidade rural no interior da Inglaterra, Dan Coopey tem um interesse por tecelagem e cestaria que remonta à própria infância e se expande para uma pesquisa contínua. A cestaria, afinal, é considerada a tecnologia mais antiga da humanidade, como o próprio artista enfatiza, e está presente em diversas culturas ao redor do mundo. A obra de Coopey parte dessas tradições ancestrais, mas ao mesmo tempo destitui seu caráter utilitário para imbuir aos objetos um estranho aspecto híbrido, algo que não é propriamente cesta, nem tecido.
Usando uma variedade de fibras naturais, seu processo de trabalho se dá de modo íntimo e intuitivo, sem esboços ou projetos. O artista permite que as esculturas ganhem forma organicamente à medida em que realiza os trançados, respeitando as limitações do corpo e a ação da gravidade. Para além de revisitar técnicas quase esquecidas, esse processo parece também querer resgatar a experiência tátil em um mundo dominado pela visão. "Ao tecer, o corpo precisa fazer um grande esforço para tensionar as fibras contra sua vontade e, em troca, as fibras criam tensão nas fibras do corpo. Os cordões agem como tendões que conectam todos os músculos", afirma o artista. "Ao longo desse processo, o objeto torna-se uma extensão do corpo, seu duplo".
Dan Coopey nasceu em Stroud, Reino Unido, em 1981. Vive e trabalha entre Londres e São Paulo. Formado em Belas Artes pela Goldsmiths College (Londres, 2004), já participou de residências artísticas como: Fibra (Bogotá, 2018), Pivô (São Paulo, 2016-2017) e Acme Fire Station (Londres, 2012-2015). Suas exposições individuais recentes incluem: Brunches no Wonderwerk, Espaço C.A.M.A (São Paulo, 2021); Sunday, Galeria Estação (São Paulo, 2019); Interiors, Pivô (São Paulo, 2017); Dry, Kubikgallery (Porto, 2017); lalahalaha, Belmacz (Londres, 2015). Entre as coletivas, destacam-se: The Immortal, Elizabeth Xi Beuer Gallery (Londres, 2022); Beuys Open Source, Belmacz (Londres, 2021); Mingei Now, Sokyo Gallery (Kyoto, 2019); (o), Galeria Leme (São Paulo, 2018); The Peaceful Dome, The Bluecoat (Liverpool, 2017); Neither, Mendes Wood DM (Bruxelas, 2017). Seus projetos futuros neste ano incluem individuais em OV Project (Bruxelas) e Mackintosh Lane (Londres).
-
A trama do mundo: fios soltos e reflexões afetivas sobre a prática da tecelagem na obra de Dan Coopey
Victor Gorgulho1. Distanciando-se de produções contemporâneas que – justamente por conta da ampla gama de possibilidades temáticas e materiais que os dias de hoje nos oferecem – a obra de Dan Coopey baseia-se única e irrevogavelmente sobre a prática da tecelagem, algo que remonta à infância do artista, nascido em Stroud, uma pequena cidade rural no interior da Inglaterra. Por lá, a prática da tecelagem ocupa um lugar central na cadeia de produção artesanal e industrial da cidade, moldando significativamente a paisagem local – de modo tanto literal quanto subjetivo. A cidade (e seus moradores, portanto), conectam-se em uma trama de fios e fibras que traçam uma peculiar cartografia social e afetiva na geografia da cidade.
2. Ainda que fontes históricas apontem para distintas temporalidades e localizações geográficas pouco precisas, há uma espécie de consenso, digamos, de que a tecelagem situa-se entre algumas das práticas artesanais mais antigas e difundidas em todo o mundo, ocupando tanto uma imprescindível dimensão utilitária para inúmeros povos da Antiguidade para cá, quanto se afirmando, também, em uma singular dimensão de expressão artística, atravessando séculos e civilizações, em cestarias e obras escultóricas (por que não assim denominá-las?) que ultrapassavam e expandiam um tanto a dimensão cotidiana/vernacular destes objetos.
3. Por osmose ou mesmo por um insuspeitado inconsciente interesse do próprio artista, Coopey acabou por internalizar o saber da cestaria e da tecelagem, de sua infância aos dias de hoje, com uma tamanha peculiaridade que acaba por informar um tanto acerca de sua produção artística atual. No grupo de obras reunidas na presente exposição, torna-se evidente (ainda que não de maneira explícita ou obviamente literal), uma prática que conjuga tanto o saber rigoroso do manuseio de diferentes tipos de fibras naturais – como a juta, o sisal, a fibra de bananeira e mais – através de uma deliberada condução em nada empírica ou racional do ato de tecer estes fios. Há, aqui, um ponto de partida definido para o início dos trabalhos de Coopey em seu ateliê. Não há, no entanto, um projeto ou croqui que busque esboçar um resultado previamente pensado, resoluto. Tecer, talvez, seja como caminhar, ainda que o percurso – curto ou longo, como for – se dê, provavelmente, no mesmo lugar de produção do artista.
4. É recorrente a discussão em torno do gesto e do uso da força e da expressão corporal de qualquer artista que esteja a produzir, especialmente nos campos da pintura e escultura, notadamente. Na contramão deste consenso, são inúmeras as práticas artísticas que também demandam a força física de quem as realiza, ainda que de maneiras outras, muitas vezes escondidas por detrás da delicada beleza que a obra final acaba por imprimir diante dos olhos daquele que a vê, especialmente se observada na polidez do espaço expositivo de galerias e instituições. Há uma dinâmica ultra complexa e talvez pouco conhecida (ao menos no circuito da arte contemporânea) que atravessa o fazer da tecelagem.
5. Quando perguntado por mim, durante a montagem da exposição, sobre o esforço físico e o tempo gasto nas obras ali presentes, a encantar meus próprios olhos por vezes por sua sensação de leveza e fluidez, Coopey me revela uma nebulosa relação que se dá com cada um dos materiais que elege para trabalhar em suas obras. Há aquelas que, decididamente, irão em algum momento ferir as mãos do artista, dadas suas espessuras e o extenso tempo empreendido em trançá-las, desfiá-las, reconfigurá-las em matérias outras. Reitero, aqui: a produção de Coopey naturalmente chama a atenção por sua beleza e exuberância, por sua coesão formal e pelos sofisticados repousos que encontram no espaço expositivo, travando finos diálogos entre si, provocando o visitante a tentar decifrar aquilo que sussurram por entre suas muitas e densas camadas. Aqui, no entanto, os fios são orgânicos, radicalmente distantes da frivolidade dos fios elétricos, maquínicos – hoje, aliás, já quase escassos, transformados em nuvens etéreas, transparentes e pesadas, a repousar por nossas cabeças. Clouds of all sorts, hidden mysteriously over our innocent heads. Nos debrucemos sobre os fios de Dan, um tanto mais interessantes, evidentemente.
6. Como a azulejaria – aqui também em uma comparação de certo modo descompromissada com uma dita narrativa história com “H" maiúsculo –, a tecelagem, a partir dos intensos fluxos de troca sofridos ao longo dos séculos ao redor do globo, é por si, também, uma prática artística e utilitária capaz de carregar estórias e narrativas outras de povos originários, desaparecidos, narrativas forçadamente marginalizadas e escondidas por entre os grossos fios de sisal que, em suas ranhuras diversas, nos recordam das tantas camadas semânticas acumuladas nestes materiais. Talvez aí resida o mais radical e complexo senso de contemporaneidade do corpo poético da obra de Dan Coopey: o artista está a nos lançar, a todo momento, para um ontem-hoje que opera feito uma incessante roda-gigante de um parque de diversões abandonado na beira de uma estrada. Nossos olhos fitam o presente, é claro, mas também miram um palimpsesto de épocas e narrativas evocadas pelo artista. Ainda que no silêncio de suas esculturas e mesmo na delicadeza de seu discurso, outro aspecto a destacarmos na produção do artista. Inteligente, afiado e consciente de seus passos. Dan sabe onde pisa – e onde coloca suas próprias mãos.
7. Sem nunca utilizar elementos artificiais em suas obras e empregando materiais adquiridos em sua maioria na Rua 25 de Março, em São Paulo – além de outros pontuais materiais trazidos em viagens ao exterior, mas de similar valor simbólico e mesmo financeiro – Coopey oscila, na realização do presente conjunto de trabalhos entre o desejo de tecer obras cuja visualidade evocam cestas de tipos diversos (errantes, abertas, gloriosamente rebeldes em suas vozes soberanas) e obras ainda mais rigorosamente formais, no que toca um fazer escultórico mais “convencional" ainda que completamente contemporâneo, como o restante do todo. O Duplo, por exemplo, obra que dá título à exposição, consiste em uma estrutura vertical de vime, ferro e goma de mascar (situada no interior da obra, em suas curvaturas), possui a quase exata altura do artista, evidenciando a relação intrínseca entre Coopey e seus trabalhos. Uma curiosa (e mesmo engraçada, em certa medida) relação arte-vida aqui apresentada ao público sem nenhum pudor ou receio. O artista está presente, em corpo, carne, vime, sisal, mãos marcadas pelas fibras, em sua doçura e discurso eloquente, em um vibrante pigmento natural de tons laranja que aquece nossos olhos e a imponência do concreto do espaço expositivo, a suavizar-se ao passo que as obras do artista o ocupam, o habitam. Estamos cercados de seres, de entes mais ou menos por nós conhecidos, relembrados. Sem medo, nos aproximemos – ambos! – por mais uma vez. E outras muitas vezes mais.
-
O Duplo
Dan Coopey“Comecei a trabalhar com a fibra por coincidência – uma coincidência desejada – e continuei porque esta nunca me desapontou. À medida em que a conheço melhor, tanto melhor ela me conhece. Em poucas palavras, ela nunca deixou de despertar minha curiosidade. A fibra é como um lápis usado: utiliza-se por tanto tempo que não se dá mais o devido valor. Sou feita de fibra porque adotei-a, e porque a reconheço.” (Olga de Amaral, El Manto de la Memoria, 2013)
”Talvez, com minha tecitura, eu queira escrever em vez de descrever: a alma dupla, a dupla proteção da morte, a duplicidade inerente à criação de uma nova obra cujas características são tão parte do criador que acabam por tornar-se uma reprodução de si mesmo. Dá para pensar em cada obra, cada pincelada, cada forma simples, pequena ou grande, que surge a partir da pessoa que cria o duplo." (Olga de Amaral, ibid)
Estas palavras da artista colombiana encontraram eco enquanto fazia esta nova série de trabalhos, centrada em torno da minha relação pessoal com a tecelagem. Durante a tecitura, o corpo tem de fazer um grande esforço para tensionar as fibras contra sua disposição. E, estas, em contrapartida, criam tensão nas fibras do corpo – os tendões – que, como cabos, conectam cada músculo de nosso corpo. O título desta nova exposição vem de Olga de Amaral, e é também o título de uma das obras da mostra. Embora menos perceptível quando apoiada diagonalmente na parede da galeria, esta peça tem exatamente a mesma altura de meu corpo, uma conexão corporal que quis tornar explícita no trabalho. Cada curva e contracurva da escultura é formada pelo posicionamento da trama em ângulos específicos em relação ao meu corpo, e exige aproximadamente um mês dedicado à sua produção. Durante este processo, a tecitura é, em grande medida, uma extensão do corpo. Eu nunca projeto meus trabalhos. Ao invés disso, sua forma emerge organicamente a partir deste processo íntimo e intuitivo. Anni Albers escreveu sobre dar ao objeto a chance de projetar-se a si mesmo, e eu penso parecido. Recentemente, também venho pensando muito sobre o momento em que uma trama se torna completa e deixa de ser parte de meu próprio corpo, sobre como eu ainda mantenho alguma empatia pelo objeto e no que isso pode significar no que se refere a ter empatia pelos outros. Com este novo corpo de trabalhos, também tenho me voltado a outras forças externas que dão forma ao trabalho: o uso de uma agulha para fechar uma das obras, por exemplo, agindo como substituta de minha mão, colocando-a no centro da trama, ou o efeito da gravidade e como esta dita a forma como cada objeto se dobra, assim como seu caimento.
“Ao adentrar a essência da tecitura – sua função como uma proteção contra os elementos – é inevitável olhar para a paisagem e não surpreender-se pelo paradoxo que surge: a paisagem, inversamente, passa a ser percebida como uma abstração da tecitura, que é apenas um manto que cobre a terra.” (Olga de Amaral, ibid)
Esta última citação de Amaral me toca especialmente. Cresci em uma pequena cidade rural no Reino Unido – Stroud –, famosa pela tecelagem. E, ali, a paisagem é literalmente moldada pela indústria, das casinhas dos trabalhadores e das muitas pequenas fazendas ovinas, como a de meus avós, que fornece lã para as fábricas vizinhas, aos canais construídos para transportar fibras e tecidos. Passei grande parte de minha educação infantil aprendendo sobre esta indústria e as consequências da Revolução Industrial. Uma sociedade histórica local que costumava organizar visitações públicas e visitas escolares guiadas, sugestivamente a descreve e conta como esta sobrevive até hoje:
“As raízes de nossa herança têxtil permanecem subjacentes. Os topos das montanhas de calcário fornecem a pastagem perfeita para ovelhas e um material de construção ideal; as camadas de argila, mais abaixo, criam nascentes – água fresca para as casas e um suprimento abundante para as rápidas correntezas que são capazes de fazer girar as rodas d’água. E há ainda a argila, a bentonita.
Explore a paisagem – há centenas de trilhas, muitas ligando povoados às fábricas. Antes da Revolução Industrial, fiandeiros e tecelões trabalhavam nas casinhas abastecidas de lã ou linha pelos vendedores a quem os tecidos eram devolvidos para tingimento e finalização. inovações no maquinário expandiram as fábricas. Fiandeiros e tecelões tornaram-se trabalhadores fabris, juntamente com seus filhos. Máquinas a vapor agora suplementavam a força da água com o carvão que vinha sendo transportado pelo canal. No auge da prosperidade, a região de Stroud continha mais de 100 fábricas. Hoje os tecidos de Stroud ainda são exportados para o mundo todo, podendo ser vistos em bolas de tênis e mesas de sinuca. O trabalho de fiação, tingimento e urdidura sobrevive através de artistas contemporâneos que transmitem suas habilidades e mantém o fio de ligação entre o passado e o futuro.” (StroudWater Textile Trust, Textile Heritage, 2022)
Lembro-me de visitar antigas fábricas, uma das quais onde minha mãe trabalhou quando eu era jovem, e aprender a tecer com lã em pequenos teares de papelão. É engraçado relembrar este tempo e perceber que aquelas técnicas permanecem em meu trabalho até hoje. Afora sistemas mais improvisados que usam o trançado ou o debrum, meu trabalho geralmente emprega simples técnicas de entrelaçamento. Gosto do fato de que uma técnica comum tenha uma história antiga e abrangente, e que guarde tanto potencial, a depender da maneira como é empregada assim como da fibra escolhida.
***
Para esta exposição, trancei principalmente fibras macias – cabos e cordas – em larga escala, que conferem aos objetos uma qualidade híbrida estranha, entre a cestaria e a tecelagem. O trançado tem muitas variedades, do relativamente simples ao muito complexo, e está presente na cestaria e nas tradições têxteis de todo o mundo. Pode ser definido como dois ou mais comprimentos de fibra retorcidas uma sobre a outra, como na cordoaria. Porém, aqui, conforme o material é torcido, prendemos varetas entre elas. Com materiais rígidos, pode ser chamado de fitching ou pairing no Reino Unido, dependendo da direção em que torcemos a fibra.
Para o olhar leigo, as técnicas de trançado podem ser vistas como puramente decorativas ou até simbólicas, e tem o potencial de ser ambos – para muitos grupos indígenas no Brasil e em outros locais, o trançado é também uma forma de comunhão e contação de histórias, embora tenha nascido da necessidade. Por exemplo, entre povos indígenas no Brasil a técnica mais comum é a cruzada e suas muitas variações, na qual as fibras são sobrepostas diagonalmente para criar uma superfície plana e frequentemente lisa. Esta técnica é empregada pois é a mais prática para ser usada com fibras chatas, como as muitas variedades de palmeiras. Aqui na cidade, o enlaçado é a mais comum – a clássica sobreposição de fibras “por baixo e por cima” usada globalmente – que é muito mais prática para as limitadas fibras disponíveis comercialmente, além de oferecer velocidade para a produção em massa.
Muitas das fibras que uso em meu trabalho, eu compro na 25 de Março e em seu entorno, no centro de São Paulo. Quando visito o Reino Unido, sempre trago uma sacola de fibras que não consigo encontrar aqui, tais como o rattan e o lúpulo, que é produzido a partir de sobras de fibras de lúpulo da fabricação de cerveja, e que usei para fazer Beer Belly (Barriga de Chopp, 2022). Outras fibras usadas na mostra, são muito mais comuns no Brasil, como o sisal (principalmente o cultivado na Paraíba e na Bahia), e a juta (da planta Corchorus, comum em áreas tropicais e subtropicais). Quando quero usar fibras naturais aqui na cidade, as opções são deveras limitadas e, claro, nem muito práticas e nem éticas de serem importadas de longas distâncias, mas esta limitação sempre impulsiona o trabalho em novas direções. Há muitas fibras sintéticas, claro, mas estas são frequentemente mais caras e, embora eu as tenha usado no passado, venho tentando evitar tais elementos poluentes ultimamente.
Há muito que a 25 de Março tem uma ligação com fibras e tecidos. No século XIX, muito do trabalho em tear nas vilas e cidades do Estado era da competência de cada família que vendia tecido, tendo ambos os gêneros (assim como crianças maiores) empregados. As tecelagens eram frequentemente instaladas nas cozinhas dos casebres para que as tecelãs pudessem trabalhar enquanto simultaneamente gerenciavam tarefas domésticas, como cozinhar e limpar. No entanto, gradualmente, fábricas maiores e corporações foram fazendo lobby para passar leis limitando a importação de maquinário, e estes pequenos produtores foram forçados a adentrar o comércio de tecidos transportando suas velhas máquinas para cidades e lojas ao longo de ruas como a 25 de Março, onde faziam roupas diretamente para o varejo. Em seu excelente artigo “Façonismo: produção familiar em tecelagem”, o sociólogo José Carlos Durand descreve como, até os anos 1970, “empresários que se dedicavam à tecelagem estavam desativando seus teares próprios e deslocando atenção e investimento para tinturaria e beneficiamento de tecidos”. A indústria do tecido cru passou para as mãos dos grandes negócios.
***
Meu interesse nas tecelagens remonta, porém, ao início da humanidade – a cestaria é considerada a tecnologia mais antiga da humanidade – quando o ato de trançar evoluiu e tornou-se onipresente antes de seu declínio mais recente. Os cestos mais antigos conhecidos são datados de aproximadamente 12 mil anos atrás. A primeira corda é ainda mais antiga, precedendo até a cerâmica. O que sabemos sobre a história da cestaria vem muito de impressões de trançados encontradas em fragmentos de argila. Presume-se que a argila era embalada em cestos para permitir o transporte de líquidos. Em seu ensaio pioneiro, de 1851, Os quatro elementos da arquitetura, o arquiteto Gottfried Semper insistia que a fiação, torção e atadura de fibras lineares estão entre as mais antigas artes humanas, das quais todas as outras teriam derivado, incluindo tanto a edificação quanto a tecelagem. “O início da edificação coincide com o início da tecelagem”, escreveu. “E o elemento mais fundamental tanto da construção quanto da tecelagem foi o nó”.
O papelão foi inventado há apenas 200 anos, o plástico ainda mais recentemente, há cerca de 100, e, antes disso, cestos eram a forma mais comum de armazenamento e transporte. Qualquer mercado internacional era um mar de recipientes trançados de todo o tipo, forma e tamanho. Acho incrível a rapidez com que os residentes de cidades e municípios industrializados se desligaram tanto da tecelagem manual. O artista estadunidense Ed Rossbach observou, em 1976, que “os usos da fibra que resistiram à mecanização – como a cestaria – tendiam a tornar-se uma atribuição das sociedades não-mecanizadas”. A tecelagem manual poderia agora ser vista pelos habitantes das cidades como uma novidade, algo interessante, desvinculado da tarefa mundana que em tempos havia sido. “Se uma técnica manual de construção com fibras não podia ser mecanizada, outra técnica ou produto eram criados para supri-la ou substituir o original”.
O declínio da tecelagem pode ser uma preocupação solitária, dado que é discutida apenas em círculos de especialistas em artesanato, como demonstram as citações deste ensaio. A britânica especialista em tecelagem Dorothy Wright escreveu extensivamente sobre o declínio da cestaria em seu livro de 1959 Baskets and Basketry (Cestos e cestaria), e até discute como os caprichos da moda desempenharam um papel importante, observando que minissaias não combinam com cestos de compras e móveis de vime, dado o perigo do nylon. Ela insistia que quando saias mais longas voltassem à moda, cestos de compras de vime também voltariam. Infelizmente, foi otimista demais. Sua observação de que “são muito usados, tanto no campo quanto na cidade, por pedreiros, pescadores, agricultores, carteiros, entregadores de alimentos e bebidas, e também nas fábricas”, pertence a um passado distante hoje em dia. Porém, é engraçado como aquelas coisas de plástico com alças que usamos para carregar compras dentro do supermercado ainda são chamadas de ‘cesto de compras’, reconhecendo seu equivalente histórico original trançado à mão. Muito recentemente, talvez tenha ocorrido também um pequeno renascimento deles, com as cafeterias e padarias hipsters que agora são mais propensas a disponibilizarem cestos de pães e doces. É, claro, uma estratégia de marketing desenvolvida para seduzir clientes com um viés de frescor, história, qualidade e autenticidade, e funciona, talvez porque as pessoas realmente estejam procurando por este senso de tradição.
Em outubro, passei um mês morando com a comunidade de La Urbana, uma vila colombiana ao longo do rio Caño Mataven e da fronteira com a Venezuela, como parte de uma residência organizada pela Organizmo, uma organização colombiana sem fins lucrativos. Foi uma grande honra poder aprender em primeira mão sobre suas vidas e passar meu tempo convivendo e co-criando com eles. Ficou claro que a comunidade também sentia que futuras gerações não continuariam a tecer. Enquanto nos despedíamos, Nori, uma das mais experientes tecelãs da vila, fez um apelo emocionado aos jovens locais: “Quero dizer algo aos meus sobrinhos: é mentira que homens não tecem. Vejam o Dan, ele tece, assim como nós mulheres. E vocês também deveriam tecer”. Sim, é uma vida de risco. Alguns dias, acordava às 5 horas da manhã para ajudar as mulheres da comunidade a coletar mandioca no campo, onde nos disseram que costumavam começar mais tarde e passar o dia todo trabalhando ao ar livre, porém debaixo de um sol causticante do meio-dia. Foi triste vê-las sofrendo as consequências ambientais devastadoras de nosso modo de vida capitalista e industrializado. À medida em que o mundo avança em direção a um desastre ecológico criado por nós mesmos, todos devemos ouvir e aprender com os costumes dos povos indígenas, e buscar uma relação mais próxima, mais respeitosa, mais entrelaçada com a natureza.
Filósofos frequentemente especulam a respeito do que farão as pessoas se computadores e máquinas tomarem o controle e a mão humana for considerada redundante. Imagino se será este o momento em que as pessoas voltarão a tecer novamente, mesmo que apenas para passar o tempo.
“Todo progresso, assim me parece, vem acompanhado de regresso em outra área. Em geral, avançamos. Por exemplo, no que diz respeito à articulação verbal – o público leitor e escritor hoje é enorme. Mas, certamente, nos tornamos mais insensíveis à nossa percepção do tato – do senso tátil.” (Anni Albers, 1965)
-
vistas da exposição












obras

gustavo speridião: sobre poesia
23 nov 2022 – 21 jan 2023
texto clarissa diniz
-
A Central tem o prazer de apresentar Sobre poesia de Gustavo Speridião, novo artista representado pela galeria. Com ensaio crítico assinado por Clarissa Diniz, a exposição é formada por um políptico de seis pinturas em que o artista aborda o plano pictórico a partir de sua tridimensionalidade – os trabalhos são montados em bases de madeira e concreto, formando um hexágono no centro do espaço positivo.
Ao convidar o público para entrar nessa arena, onde é possível circundar as pinturas e ver seu verso, Speridião recusa a frontalidade absoluta do plano, explorando sua ilusão espacial. O uso da palavra também desempenha um papel central nesses novos trabalhos, como é recorrente em sua prática. "O texto, aqui escrito ao contrário, fala da rebeldia como uma parte muito forte e transformadora da essência humana. A rebeldia é amiga da arte. A poesia como meio de transformação e de transgressão." defende o artista.
Gustavo Speridião nasceu no Rio de Janeiro em 1978, onde vive e trabalha. Mestre em Linguagens Visuais pela UFRJ (Rio de Janeiro, 2007), já realizou individuais em: Galerie Les Filles du Calvaire (Paris, 2020); Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (Rio de Janeiro, 2016); Galeria Mario Schenberg/Funarte (São Paulo, 2015); Maison Européenne de La Photographie (Paris, 2013); entre outros. Entre as coletivas, destacam-se: Frestas - Trienal de Artes, Sesc Sorocaba (Sorocaba, 2017); South-South: Let me begin again, Goodman Gallery (Cidade do Cabo, 2017); Soft Power - Arte Brasil, Kunsthal KAdE (Amersfoort, 2016); Imagine Brazil, mostra itinerante que passou por Astrup Fearnley Museum (Oslo, 2013), MAC Lyon (Lyon, 2014), Museum of Art Park (Doha, 2014), Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, 2015) e DHC/ART (Montreal, 2015); Parasophia, Kyoto Municipal Museum of Art (Kyoto, 2015); 12. Biennale de Lyon (Lyon, 2013); entre muitas outras. Suas obras integram importantes coleções públicas como: Astrup Fearnley Museum (Oslo), Inhotim (Brumadinho), MAM Rio (Rio de Janeiro), MNBA (Rio de Janeiro), MAC Niterói (Niterói) e MAR (Rio de Janeiro).
-
Keep The Buzz Alive [versão resumida]
Clarissa DinizDois anos atrás, Gustavo Speridião pintou A MARCHA SEM FIM DOS POETAS REBELDES (2020), um díptico que continha em seu útero a instalação MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE, agora parida e em pé na individual Sobre poesia.
Neste intervalo, o artista suprimiu os artigos e as preposições do título anteriormente pensado (“a” e “dos”), bem como transformou a ênfase de seu enunciado, agora menos interessado no protagonismo dos autores, “os poetas”, do que na agência da própria poesia.
Os cirúrgicos cortes operados por Speridião sobre a formulação retiram seu quase axioma do campo dos bordões para inscrevê-lo, com mais fugacidade, no território da poesia. Prescindindo de qualquer função conectiva entre os substantivos que habitam os títulos das obras, o artista produz um gutter [1] semântico que decerto faz seu anterior lema parecer, agora, uma espécie de haikai.
Não à toa, dando continuidade às investigações linguísticas que levaram o artista a elaborar as mostras sobre desenho (2007), sobre fotografia e filme (2013) e sobre pintura (2021) e na atual exposição, MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE se filia ao poético, modo linguístico que tem na cesura uma de suas tradicionais características.
Termo que Freud utilizaria para descrever a relação de simultânea continuidade e ruptura que se dá no nascimento, a cesura é, todavia, um conceito originário do campo da poesia. Indica uma pausa intencional no interior do verso: um corte tão rítmico quanto sígnico.
Parida de sua versão causal – na qual palavras linearmente organizadas indicam relações de um pertencimento exclusivista, isto é, de propriedade (“a marcha” é, afinal “dos poetas”) –, MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE, rebento cesurado da obra de 2020, explora o corte poético também no espaço, organizando-se em seis faces igualmente consecutivas e descontínuas.
O que rompe o cárcere dos sentidos unidirecionais é a própria irrupção do espaço por entre sua pintura-enunciado: uma pausa duplamente métrica que é, afinal, um projeto de fuga ao – ou desconstrução do – controle das significações, corporeidades, políticas e representações.
SEM FIM
Como trotskista, Speridião não só aposta, como principalmente enxerga a “revolução permanente”. Sua paixão pela impermanência das nuvens e os desafios da representação que nela estão implicados tem, evidentemente, raízes políticas de grande amplitude e profundidade: o compromisso ético em não encerrar ou considerar como ex nihilo as conquistas das tantas lutas, atento que está à necessidade de seguir revolucionando em razão da infinitude das urgências sociais e da consciência de que não é possível delimitar, posto que nos ultrapassa, quando a luta começou.
Nesse sentido, ao longo de sua profícua obra, inúmeras são as situações nas quais Gustavo tem produzido continuidades, como agora acontece com MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE, cuja dimensão circular faz o poema tornar-se infindo tal como a marcha e a rebeldia por ele invocadas.
Numa justaposição circular, a instalação torna multidirecionalmente reversível a leitura do poema. Além de ser lido em frente e/ou verso, é também passível de, espiralando a cesura, ser recombinado pelo movimento de nosso corpo, que pode retornar ou ricochetear a si mesmo e às palavras, produzindo poemas como “REBELDE MARCHA POESIA SEM FIM”, “FIM REBELDE SEM POESIA MARCHA”, “POESIA SEM MARCHA FIM REBELDE”, dentre inúmeras possibilidades que têm o poder de transmutar substantivos em verbos ou adjetivos, and back again.
MARCHA
A instalação agora montada em Sobre poesia não só nos convida a caminhar em seu entorno e a atravessá-la, como também foi produzida em marcha.
Deitadas sobre o chão durante dias, as telas agora tornadas imponentes presenças verticais foram, antes, pisoteadas. Sem que essa caminhada tenha qualquer ambição performativa da parte do artista, ela todavia constitui o projeto estético da obra: em MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE, o caráter descentrado do poema e da espacialidade da instalação se faz também na multiplicidade de direções e intensidades de seus traços, manchas e grafias.
Andando em círculos sobre as telas, foi com os pés e com outras partes do corpo – de modo a desbancar o canônico protagonismo da “mão do artista” – que o carvão, a tinta e o verniz foram se impregnando nas pinturas junto à ação do tempo, que trouxe sua colaboração na forma de poeira, vento e decantação.
A sofisticada trama de artifícios e dispositivos composicionais empregados pelo artista informa a sensação de estarmos diante de uma pequena massa de acontecimentos, presenças e subjetividades.
MASSA
Intitulada Como Me Tornei Bípede ou Os Problemas Políticos de Ser Bípede (2007), a dissertação de mestrado de Speridião partia do tema das duas pernas que nos servem de apoio para introduzir-nos numa de suas principais estratégias estéticas, em tudo irmanada à máxima marxista-trotskista da revolução permanente – a “fragmentação permanente”: “se faço o papel de dezenas de autores diferentes que se contradizem uns aos outros, e mesmo a si próprios, o Bípede também foi um multiplicar constante podendo dizer que temos Doze Bípedes, todos incertos e vacilantes, todos contraditórios entre si”[2].
Posto que as pernas agem conjuntamente, sua singular conformação nos corpos humanos tem a capacidade de nos fazer experimentar a dimensão de multiplicidade que é inerente à unidade. Um interesse sociopolítico ao qual se soma o fascínio estético de Speridião pelos kouroi: tradição da estatutária grega que, em sua representação monumentalizada de corpos masculinos, os apoia sobre um par de pernas em posições distintas, com um pé à frente do outro, num passo interrompido pela representação que o congela entre o ir e o vir, isto é, na condição de liminaridade da passagem.
Produzir diferença na própria inerência, tal como a cesura no interior de um verso, é uma contribuição da arte no âmbito da forma política. Como autor, Speridião busca fazê-lo ao incorporar a dialética dentro sua própria obra, antecipando, já no processo de criação, a usualmente posterior confrontação com a diferença. Uma operação de dialética intrínseca que se torna, assim, uma estratégia construtiva.
Para tanto, além de provocar e evidenciar cortes, cesuras e gutters, o Bípede-Gustavo – um fragmentador de si mesmo – tem performado diferentes projetos estéticos numa mesma obra, intencionalmente tornando algumas de suas pinturas tão geométricas quanto gestuais, tão expressivas quanto conceituais, tão planejadas quanto acidentais.
A voluptuosa convivência entre diferentes vocações estéticas numa mesma obra por vezes precipita a sensação de estarmos diante do trabalho de dois ou mais autores, evocando presenças díspares que não convivem em equilíbrio, mas em movimento.
É o que acontece em grande volume em MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE, cuja caminhada multidirecional produziu manchas desordenadas a ponto de ficcionalizarem a existência de uma massa de pés, mãos, corpos. Percepção reforçada, ainda, pela fisicalidade heterotópica das seis pinturas que, de pé, nos rodeiam como se estivéssemos dentro de uma roda de ciranda ou de pogo, abraçando-nos em sua performatividade igualmente ameaçadora.
Para Speridião, ou a revolução é das massas, ou não será revolução.
REBELDIA
Gustavo Speridião é um militante socialista que tem, nas ruas, uma de suas principais escolas de arte. Para o artista, as técnicas de manifestação ou de autodefesa são não apenas estratégias de luta, como também de elaboração estética.
Vem da experiência da luta popular a relevância que a ideia de barricada tem tomado em sua obra, do que MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE é um claro exemplo, na medida em que faz uso de soluções construtivas do tipo do it yourself para botar essa instalação-trincheira no mundo.
Como um elogio à rebeldia, a obra é, ela mesma, um exercício de memória e de fabulação de táticas de confronto popular e saberes insurgentes como a marcha, a faixa, o lambe, a roda, a pichação ou a barricada, alguns dos procedimentos mobilizados em sua criação.
Fortemente inspirado pela autodefesa dos moradores de Pinheirinho (São Paulo) contra a violenta reintegração de posse sofrida pela comunidade em 2012, a obra de Speridião parece compromissada com o que, como um lembrete, evoca uma discreta anotação de um de seus muitos cadernos: “keep the buzz alive”.
A revolução permanente pede, afinal, uma rebeldia sem fim.
POESIA
A teologia da ordem que identifica a ideia moderna de Estado se constrói também por meio da linguagem, essa admirável capacidade expressiva e representacional que, embora irredutível à comunicação, tem sido continuamente achacada pelo capitalismo cuja eficácia produtivista não a tem poupado.
A poesia, por sua vez, é uma forma de linguagem cujas estratégias de enunciação permitem e, mais do que isso, fomentam o descompromisso criador e crítico com a teologia da ordem. Fazer poesia é, como salienta Speridião, imaginar e experimentar outras formas de organização que, desde os sentidos e as formas, são também sociais e políticas.
Aprender a fazer uso de gutters, cesuras e outros cortes é, portanto, uma arma contra a fantasiosa estrutura discursiva do poder que, ficcionalizando a ordem social e política, nos quer fazer acreditar que não há mais brecha, fresta ou mesmo vácuo passível de ser ocupado ou tomado como porta de entrada para a implosão da própria estrutura que os produz e os mantém à sombra.
CINZA
A despeito de sua monumentalidade, MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE, essa espécie de pedagogia poética para uma permanente rebeldia política, não se faz de forma estridente ou espetacular. A econômica sisudez de sua “massividade objetual” [3] é pouco sedutora; nada tem da luminosa nitidez do galante mundo digital.
Ao contrário de uma luminosidade que é puro brilho, a luz que cruza e constitui a instalação é por ela mesma em grande parte absorvida, tomando as seis pinturas como rebatedores através das quais o que ilumina já o faz numa atmosfera opaca, contida como o preto e o branco que matizam a intensidade gestual da obra.
MARCHA SEM FIM POESIA REBELDE é, por isso, eminentemente cinza como uma nuvem pesada, tomada pelo estado liminar de vir a ser chuva e, quiçá, tempestade. Tal qual as nuvens, sua cinzura não é da ordem do pigmento, mas da passagem de cor fabricada no desfazimento do carvão cujo negrume, de tão pisado, acinzentou-se.
Cromaticamente rebaixada, a instalação é, como circunscreveu o próprio artista, um “épico melancólico”. É pouco triunfal em sua verve revolucionária, mas suficientemente rebelde a ponto de tornar-se poesia e, através dela, não se deixar abater pelo desolado lamento das batalhas perdidas.
Como afetuosamente contestam os versos de Amor Cinza, de Matheus Aleluia – cuja voz grave e hipnótica Gustavo Speridião escutava enquanto caminhava pintando sua MARCHA SEM FIM... –, “na linha do horizonte tem um fundo cinza (...) / não aceito quando dizem / que o fim é cinza / eu vejo o cinza / como um início em cor / (...) vamos festejar o cinza com amor”.
_______________
1. Em 2020, Speridião criou a pintura GUTTER, termo inglês que designa calha, canaleta, rego. Enquanto nas histórias em quadrinhos gutter indica justamente as linhas que separam os diversos campos da narrativa – os entre-espaços que estruturam uma página de gibi, por exemplo –, na poética do artista o vemos assumir cada vez mais protagonismo, por vezes expandindo-se a ponto de tornar-se maior do que o campo ao qual deveria servir como delimitação.
2. Excerto da dissertação do artista. Disponível em: http://serbipede.blogspot.com/
3. Guilherme Bueno em Escaramuças pictóricas (2011). Texto crítico da mostra Fora do plano tudo é ilusão, realizada na Anita Schwartz, no Rio de Janeiro.
-
vistas da exposição










dora smék + paul setúbal: opositores
01 out – 12 nov 2022
texto benjamin seroussi
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar Opositores de Dora Smék e Paul Setúbal, exposição realizada em parceria com a Casa Triângulo e com texto assinado por Benjamin Seroussi. Refletindo o momento de crescentes tensões sociais no país, os artistas apresentam um projeto instalativo formado por esculturas de bronze e correntes que cruzam todo o espaço da galeria, buscando ampliar o debate a respeito da democracia e das polaridades políticas, éticas e territoriais.
Opositores compreende uma série de esculturas criadas colaborativamente por Smék e Setúbal em 2017, até então inéditas. Feitas em bronze a partir dos moldes das mãos dos artistas, elas são unidas e posicionadas como em um jogo infantil – a "guerra de polegares", cujo objetivo é capturar o polegar do outro usando apenas o próprio polegar. No trabalho de Smék e Setúbal, porém, o movimento dos dedos não aponta nenhum vencedor: cristaliza-se o momento da disputa, dilatando a sensação de impasse e tensão permanente.
Para a exposição, os artistas apresentam as esculturas através de um sistema de tensionamento que envolve o uso de correntes, ganchos e esticadores de aço dispostos como vetores, valendo-se das colunas de concreto da Central. As correntes atravessam o espaço expositivo em diferentes direções, criam obstáculos de passagem e acentuam ainda mais a relação de oposição entre cada um dos movimentos.
Dora Smék (Campinas, 1987) vive e trabalha em São Paulo. Dentre suas exposições recentes, destaca-se a individual A dança do corpo sem cabeça na Central Galeria (São Paulo, 2021), além das coletivas: 13ª Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 2022); Arte em Campo, Estádio do Pacaembu (São Paulo, 2020); No presente a vida (é) política, Central Galeria (São Paulo, 2020); Arte Londrina 8 (Londrina, 2020); Hinter dem Horizont, Reiners Contemporary Art/Sammlung Jakob (Freiburg, Alemanha, 2020); Cuerpos Atravesados, Reiners Contemporary Art (Marbella, Espanha, 2020); Mulheres na Arte Brasileira: Entre Dois Vértices, CCSP (São Paulo, 2019); 47. Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto (Santo André, 2019); 13. Verbo, Galeria Vermelho (São Paulo, 2017). Sua obra está presente em coleções públicas como o Museu de Arte do Rio (Rio de Janeiro) e o Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro), entre outras.
Paul Setúbal (Aparecida de Goiânia, 1987) vive e trabalha em São Paulo. Realizou exposições individuais em: Museu da República (Rio de Janeiro, 2022); C. Galeria (Rio de Janeiro, 2022 e 2018); Casa Triângulo (São Paulo, 2021); Andrea Rehder Arte Contemporânea (São Paulo, 2016); Elefante Centro Cultural (Brasília, 2015). Dentre as exposições coletivas, destacam-se: 40° Arte Pará, Casa das Onze Janelas (Belém, 2022); No presente a vida (é) política, Central Galeria (São Paulo, 2020); Aparelho, Maus Hábitos (Porto, 2019); 36º Panorama da Arte Brasileira, MAM-SP (São Paulo, 2019); 29º Programa de Exposições, CCSP (São Paulo, 2019); Demonstração por Absurdo, Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, 2018); Arte, democracia, utopia, Museu de Arte do Rio (Rio de Janeiro, 2018); entre outras. Sua obra está presente em coleções públicas como o Museu de Arte do Rio (Rio de Janeiro), o Museu de Arte de Brasília e o Museu de Arte Contemporânea de Goiânia, entre outras.
-
Teoria dos jogos
Benjamin Seroussi*O polegar
Na terra do joinha, luta de dedão não é pouca coisa: eis um jogo que consiste em deitar forçadamente o polegar alheio. Nos últimos anos, a entrada do indicador na jogada ampliou o debate – ora na horizontal, deixando então o dedão perpendicularmente apontando para cima, simulando algo que se parece com uma arma; ora na vertical, deixando o dedão na horizontal, e formando o que em libras representa a letra L. Em breve essas combinações entre dedão e indicador darão lugar ao tradicional uso do indicador e do dedo médio para sinalizar o “v” da vitória.
Para que o dedão não volte para o esquecimento, estamos aqui, neste mês marcado por muitas eleições (para presidente, governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para propor algumas reflexões paralelas à obra Opositores de Dora Smék e Paul Setúbal. Não estamos apenas entre turnos. Estamos também no interstício deixado na agenda da galeria entre a desmontagem de uma exposição e a montagem de outra: é este espaço de suspensão de poucos dias que Dora e Paul resolveram ocupar, assim como há que se ocupar todos os lugares de poder.
Pois bem. Precisamos falar do dedão, ou melhor, da luta de dedão – também chamada de guerra dos polegares. Com misteriosa origem (teria uma raiz no Japão), regras simples e popularidade global, o esporte ganhou recentemente até uma federação (WTWC), um guia escrito por um ex-campeão e um racha – a batalha de dedão... do pé! Sem entrar no fato de que a recente estruturação da luta de dedão parece se desenvolver, em primeiro lugar, em bares regados a cerveja no interior do Reino Unido, vale dizer que a batalha de dedão do pé nunca irá destituir a tradicional luta de dedão por uma simples razão: o aperto de mão.
A mão
A beleza da luta de dedão reside nisso: não se joga com alguém cuja mão não se pode apertar. Para além da adiposidade da pele alheia, é necessário reconhecer que o adversário não é seu inimigo, e, sim, apenas seu oponente, para poder se entregar na partida. “Adversário”, então, pois a palavra “opositores”, que dá nome ao trabalho de Dora e Paul, refere-se menos aos competidores do que ao dedão em si, que, como todos os que foram alfabetizados vendo Ilha das flores do Jorge Furtado já sabem, extrai seu poder do fato de ser, justamente, opositor. Sem a destreza dos polegares opositores que surgiu há milhões de anos, o que seria de nós? E da luta de dedão?
Os economistas já mostraram a importância de nos debruçarmos sobre os jogos (“dilema do prisioneiro” e outros) para modelizar a complexidade das relações humanas, dos comportamentos econômicos e das condições do surgimento da cooperação. Até prêmios Nobel foram conquistados com a chamada “Teoria dos Jogos”. Olhando para o atual contexto, a singela luta de dedão é a nossa tragicômica contribuição a esse debate cientifico em que jogos servem de expressões mínimas que ajudam a tornar evidentes dinâmicas em que estamos inseridos. Em Opositores, porém, não se trata de olhar para o jogo em si, já que ele está paralisado: as mãos dos próprios artistas foram moldadas em um só objeto de bronze fundido. Elas estão presas num eterno aperto encenando jogadas agora imortalizadas: polegar em riste, em alerta, provocador, na defesa, no ataque ou pronto para dar o bote. O nosso olhar é levado, então, para as condições de realização do jogo: as correntes.
A corrente
A tensão não está nas mãos que foram fundidas num único conjunto, e, sim, no pulso. Depois das mãos, no lugar de braços, há cortes secos e anéis de bronze com ganchos presos. Por sua vez, esses ganchos são sustentados por longas correntes afixadas nas paredes. Nosso cérebro tem certa dificuldade em analisar o que enxerga quando é confrontado com membros do corpo humano amputados, ainda mais nesse caso onde as mãos estão grudadas entre si e a tensão das correntes não ameaça o indefectível aperto de mão, mas garante que as mãos possam flutuar firmemente na altura desejada.
São as correntes que permitem que o jogo aconteça. Correntes e redes sociais, aliás, têm marcado nosso tempo, criando e inventando argumentos e sustentando conversas infinitas, apesar de tão congeladas quanto as mãos de Opositores – ninguém baixando a guarda nunca. De certa forma, Opositores é um monumento ao “brincar” perdido, pois nos lembra do quanto perdemos o respeito ao jogo, ao adversário e à importância da contradição. Os debates que acompanhamos na TV são cada vez mais tensos e regrados: entre réplica, tréplica e informações falsas, são debates sem conversas em que falta a condição mínima do diálogo que consiste em ouvir e ser ouvido. A saudosa batalha de dedão poderia substituir esse simulacro de debate sem maior dano.
O espaço
Enquanto circulamos entre as correntes esticadas de Opositores, reparamos que há algo que compartilhamos: o próprio espaço. Mesmo neste momento tenso que vivemos, para além das divergências, existe um certo consenso: reconhecemos que estamos numa tempestade de informações falsas (mesmo que não concordemos sobre quais são as verdadeiras) e nos sentimos acuados pela violência e pela retaliação que podemos sofrer se expusermos nossas posições politicas. Nesse espaço comum e irrespirável, é importante distinguirmos o que é violência e o que é conflito. Onde há espaço para o conflito, ele poder ser resolvido, diminuindo o risco de violência.
Um fenômeno interessante das últimas eleições tem sido o “vira-voto”, menos pelo movimento um tanto autoritário de achar que alguém sabe mais do que o outro em quem votar do que pelo ímpeto de conversar, encarar o conflito e a divergência e correr o risco de se afetar. De repente, longe da violência abstrata das redes sociais, fica claro que formamos também correntes e que dependemos uns dos outros para além das trocas econômicas ou dos incômodos da convivência: o cobrador não vende apenas tickets ou a padeira, pão; e o vizinho faz mais do que lembrar da lei do PSIU... Os outros voltam a serem cidadãos, ou seja, a serem pessoas cujas decisões nos impactam, e, por isso, cujas opiniões nos importam e com as quais devemos conversar.
Circulando entra as linhas de corte, é preciso conversar para além das eleições. Para isso, é fundamental que existam espaços – de arte ou não – onde seja possível praticar o exercício diário do político: distribuindo o poder, conversando presencialmente, desfazendo as crenças que sustentam conversas pré-conversadas, ouvindo e sendo ouvido. Assim como um músculo, é preciso treinar todo dia para que isso funcione adequadamente e, no início, dói bastante. Talvez um exercício diário antes de qualquer conversa devesse ser um aquecimento de polegar seguido de uma luta de dedão, para então, de polegar em polegar, medir melhor a distância que nos aproxima do outro para encarar o singelo – porém complexo, contínuo e nunca resolvido – exercício da construção democrática.
Com esperança,
1º de outubro de 2022*Benjamin Seroussi é diretor artístico da Casa do Povo
-
vistas da exposição










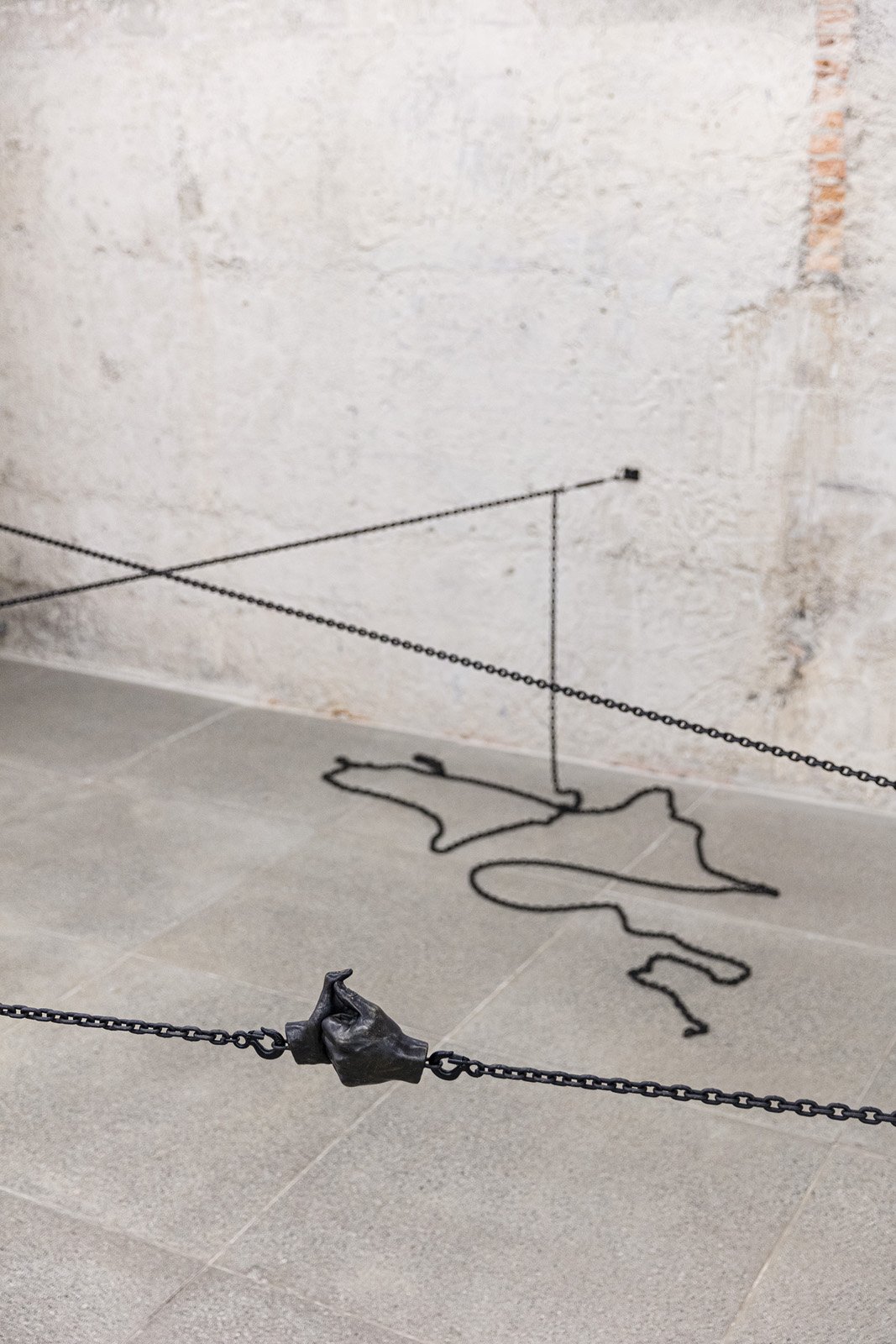
obras
notícias

bruno cançado: a menor distância
06 ago – 24 set 2022
texto agnaldo farias
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar A menor distância de Bruno Cançado. Em sua segunda exposição individual na galeria, o artista de Belo Horizonte apresenta trabalhos tridimensionais inéditos em que emprega materiais diversos como terra de cupinzeiro, cimento, resina, adobe, concreto, madeira, aço e bronze. A mostra é acompanhada de um texto crítico assinado por Agnaldo Farias.
O trabalho de Bruno Cançado intersecciona arquitetura, ecologia e epistemologia. Baseando-se no conhecimento empírico de construir – seja da arquitetura vernacular ou da construção em escala industrial –, sua obra culmina em uma mistura de temporalidades e elementos, que vão do natural ao manufaturado, do artesanal ao erudito. “Bruno aventura-se pela cidade em busca do que não sabe, mas que reconhece tão logo encontra, seja algo realizado pelo exercício puro da inteligência quando açulada pela necessidade de improviso, pela carência de recursos, seja pelo encontro de coisas que atuam como gatilho da sua capacidade de estabelecer conexões entre coisas díspares”, observa Agnaldo Farias. “O artista interessa-se por suas serventias, pelos destinos que justificaram suas presenças no mundo, pelos sentidos que lhes foram e são atribuídos no decorrer do tempo.”
Bruno Cançado nasceu em Belo Horizonte em 1981. Mestre em Artes Visuais pela Cornell University (Ithaca, EUA, 2019), graduou-se em Artes Plásticas pela UEMG (2010) e em Comunicação Social pela PUC Minas (2003). Participou de diversas residências, como Lighthouse Works (Fishers Island, EUA, 2019), Fine Arts Work Center (Provincetown, EUA, 2014-2015) e Fundação Bienal de Cerveira (Portugal, 2014), entre outras. Entre suas exposições, destacam-se as individuais em: CCBB-BH (Belo Horizonte, 2021), Central Galeria (São Paulo, 2017), AM Galeria (Belo Horizonte, 2016) e Hudson D. Walker Gallery (Provincetown, 2015), entre outras. Seu trabalho integra as coleções do MAC Niterói e do Museu de Arte do Rio.
-
Pequeno tratado sobre a engenhosidade
Em minha primeira e até agora única visita ao atelier de Bruno Cançado, uma sala inverossivelmente plana, situada no piso térreo de um prédio construído numa das ruas escarpadas de Belo Horizonte – quem não é de lá estranha esse urbanismo afeito a ladeiras abruptas –, chamou-me a atenção uma construção tosca feita de ripas de madeira nuas e gastas. Era dotada de um desenho intrincado, rebuscado e assimétrico: um cavalete triangular servindo de suporte para uma estrutura quadrangular, compondo um conjunto aparentado com essas escadas metálicas domésticas que de quando em quando despertamos de seu sono de objeto no interior de um box de banheiro desativado ou num canto pouco frequentado da nossa área de serviço, para a levarmos de um lado a outro da casa para o cumprimento de uma dessas tarefas ordinárias mas inacessíveis ao corpo desarmado, como trocar uma lâmpada, retirar uma mala do alto do armário etc. É comum haver no topo dessas escadas uma espécie de degrau mais largo, um plano com a dupla função de servir como área de trabalho, onde, por exemplo, depositamos a lâmpada mencionada, e como travamento da estrutura da escada, dispensando a presença acessória da pessoa que tempos atrás tinha a função de segurá-la, garantindo a segurança e a confiança de quem nela ia subindo. Pois era isso mesmo, tratava-se de uma escada, uma simples escada encontrada num canteiro de obras, feita por algum pedreiro/marceneiro hábil e rápido, empenhado na resolução de um problema simples, ou seja, imbuído do pragmatismo próprio aos desafios corriqueiros. E com que inteligência formal, com que economia de meios! Foi o que Bruno imediatamente notou. Não sei como obteve a escada. Se a comprou, se a encontrou numa caçamba como sobra de construção, se o interesse pela peça provocou alguma reação nos profissionais do canteiro. Não sei de nada e prefiro prosseguir no mistério. Sei que a levou ao seu atelier e hoje figura nessa sua nova exposição individual na Central Galeria, quase que na condição de sua protagonista, na verdade, parte de uma obra de dois metros de altura, composta por três partes, além dela própria.
Cumpre observar que a escada tem 1 metro e 39 centímetros de altura e 55 de profundidade, aproximadamente. A irregularidade de sua geometria aliada à correção imprevista de suas proporções convertem-na numa legítima escultura, descendente direta da vertente construtiva, não do ramal abstrato geométrico e sua regularidade às vezes obsessiva, herdeira da respeitável tradição das “ordens arquitetônicas”. A escultura encontrada por Bruno, apropriada por ele e articulada a outras de modo a perfazer uma estrutura compósita, pertence à “razão torta”, aquela que afronta acintosamente a simetria, que segue a lição do estilista Yohji Yamamoto, enunciada no filme que Wim Wenders dedicou a ele – Anotações sobre cidades e roupas (1989): “A simetria é feia. As mãos humanas, as ações, não são simétricas”. Frase que faz coro com o poema de Guillaume Apollinaire: “Sejam indulgentes quando nos compararem / Aos que foram a perfeição da ordem / Nós, que buscamos em toda parte a aventura”.
A poética de Bruno Cançado afina-se com a agudeza da percepção de um Celso Renato, cuja matéria-prima eram os retalhos de madeira que a cidade lhe oferecia, com a disponibilidade de Hélio Oiticica para com o mundo, de que são prova seus Bólides e Penetráveis, enfim, diz respeito a todo aquele que reconhece a inteligência onde quer que ela se manifeste, sobretudo aquela que acontece fora do âmbito da educação formal, dos padrões curriculares, patente na excelência dos sambas de Nelson do Cavaquinho ou Cartola, na pintura irretocável da fachada de uma casa simples, apreendida por Anna Mariani, nas esculturas do Véio, nas pinturas sobre a megalópole que Agostinho de Freitas, pintor peripatético, fazia enquanto perambulava por dela.
Bruno aventura-se pela cidade em busca do que não sabe mas que reconhece tão logo encontra, seja algo realizado pelo exercício puro da inteligência quando açulada pela necessidade de improviso, pela carência de recursos, como é o caso da escada, seja pelo encontro de coisas que atuam como gatilho da sua capacidade de estabelecer conexões entre coisas díspares. Galhos, cipós, vergalhões, pedaço de chão, instrumentos variados – martelos, marretas, tijolos –, arames e cordas para amarrar coisas com coisas. Tudo vale, tudo pode potencialmente interessar, e efetivamente presta-se à confecção de estruturas estranhamente desconexas, sintagmas sincopados.
Afora as qualidades materiais, que examina como quem saboreia as particularidades de objetos, provenham eles diretamente da natureza ou sejam eles processados artesanal ou industrialmente, o artista interessa-se por suas serventias, pelos destinos que justificaram suas presenças no mundo, pelos sentidos que lhes foram e são atribuídos no decorrer do tempo.
A escada, por conta de sua presença corriqueira e naturalizada, em que pese seu prosaísmo faz-nos esquecer que sua gênese ultrapassa o atendimento de necessidades comezinhas e remonta ao desejo atávico de se elevar a um plano além do da nossa altura. Na escultura tetrapartida apresentada, a escada serve de apoio para um outro elemento: um arco de concreto armado. Seria preciso aludir ao passado do arco na arquitetura, a grande invenção dos romanos, sua significação em termos estruturais aperfeiçoando o sistema trilítico (dois pilares e uma viga). Diante da exiguidade do espaço disponível, isso não será possível. Para o que importa aqui, na peça proposta por Bruno, o arco, célula mater da abóboda, conduz à noção da arquitetura e sua relação com o céu, a abóbada celeste rebaixada e reduzida à nossa escala. Fechando-se a 2 metros de altura, o triunfo do arco, visto de perfil um magro repuxo cinza, reduz-se a 55 centímetros de profundidade, ainda assim ensejando o atravessamento por debaixo dele, mas com os olhos, não com o corpo, incompatível com sua largura estreita. Prosseguindo da madeira para o concreto, do lado de lá da peça o arco arremata-se em três vasos cerâmicos, por sua vez arranjados em uma pilha de tijolos igualmente cerâmicos, tijolos vazados, desses encontráveis em tudo quanto é canteiro de obras do nosso país.
Madeira, concreto, barro empilham-se num exercício de arquitetura, uma assemblage antípoda à frialdade minimalista, embora rigorosa e carregada de lógica empírica e ações, mas igualmente estofados de memória e sugestões. Como a escada e o arco, também os vasos de barro, recipientes de terra, mudas e sementes, cujo formato cônico dispõe sobre o crescimento das plantas, compartilham do mesmo impulso para o alto. Sobre os vasos os tijolos cerâmicos, outra possibilidade aberta a esse material graças ao prodigioso tratamento dele pelo fogo, o que garante que ele tome de empréstimo algo da dureza das paredes de pedra. A soberba arte da cantaria produz paredes exatas e duradouras, ao contrário das paredes de tijolos que, do lugar de fabrico até o transporte para o local de construção, se vão esfarelando. A rigidez do tijolo cerâmico dispensa o corpo maciço do tijolo ordinário; em seu lugar vêm, neste caso, as 12 aberturas rigorosamente alinhadas em três grupos, dotando as paredes de alvéolos contínuos que facultam a passagem de fios, conduítes e ar, o que confere às paredes das casas uma leveza oculta. O artista explora esses atributos de duas maneiras: justapondo os tijolos, jogando com sua opacidade e semitransparência constitutivas; e empilhando-os – o empilhamento, gesto ancestral, como ponto de partida simultaneamente de toda arquitetura e da própria constituição do ser. Afinal, somos o que somos porque empilhamos. Não é isso o que nos ensinam as cariátides, os pilares antropomórficos, com suas feições femininas e verticalidade humana? Um par de nós, encimado pelo céu, constitui um umbral. E com isso voltamos ao sistema trilítico, e com isso chegamos ao encantamento do artista por colunas, mote da série de obras intitulada Coluna-pilha.
Já houve quem tenha defendido a ideia de que mesmo o ser humano mais desprovido de ideias construtivas é melhor que qualquer abelha. E o é pelo simples fato de a abelha obter a única arquitetura que por instinto lhe é dado a fazer, perfeição limitada e lacônica, enquanto o ser humano carrega dentro de si a ideia de arquitetura, noção que ele submete ao material que tiver pela frente.
Coluna-pilha alude a dois princípios interligados: 1. o gesto humano de replicar diante de si o próprio corpo, a verticalidade de seu corpo; 2. o que ele obtém empilhando pedaços regulares de material, no caso pedaços cilíndricos de matérias diversas, como concreto, minério de ferro, cimento, madeira, adobe, seixo rolado, tronco de árvore. Material in natura ou material devidamente processado, não importa. O artista vale-se de todo material para compor sua gramática, vale-se até de materiais moldados em outros materiais, como o cilindro feito de concreto enformado num cesto de fibras trançadas, e que deixa estampada em sua superfície a lembrança desse encontro. As colunas vão crescendo por meio dessas adições, assediadas aqui e ali por defeitos próprios e ações desequilibradoras, como a cunha de madeira que se impõe entre uma emenda e outra, como a pedra que compensa o corte chanfrado do cilindro, impedindo-o de cair. Fazemos o que é possível, vamos construindo e nos construindo na razão de uma ânsia insaciável, até que o edifício venha abaixo, até que acabemos como pobres escombros. Seja como for, nos reergueremos, diz o artista. Ao menos é o que parece dizer a série Relevo-cupim. Pedaços quadrangulares de chão levantados e afixados na parede com a textura típica dos cupinzeiros, estes, por sua vez, com seus ninhos que chegam a atingir nove metros de altura, resultam do mesmo incompreensível esforço ascensional. Erguem-se com rapidez, realizados pela mistura de saliva, excrementos e terras; uma construção sólida, preparada para enfrentar intempéries e predadores, não obstante porosa, aberta ao entorno pela via de seus infinitos e diminutos orifícios. O artista apresenta-os como fragmentos intensamente vivos, organismos pletóricos se irradiando.
Agnaldo Farias
Agosto, 2022 -
vistas da exposição










obras

nunca foi sorte
31 maio – 30 julho 2022
curadoria ludimilla fonseca
-
A Central Galeria apresenta Nunca foi sorte, exposição coletiva com curadoria de Ludimilla Fonseca que explora noções de meritocracia, a partir das pesquisas das/dos artistas Allan Pinheiro, Ana Hortides, Fábio Menino, Gabriella Marinho, Gustavo Speridião, Janaína Vieira, Leandra Espírito Santo e Marta Neves.
Apresentando trabalhos configurados a partir de visões e vivências do aqui-agora, o projeto aborda questões como a da “precariedade enquanto realidade inevitável”, do “sucesso como providência divina” e do “empreendedorismo como salvação”.
“Trata-se de um exercício curatorial que justapôs conceitos e impressões decantados de cada um dos repertórios artísticos, a fim de que a reunião das obras no espaço expositivo produzisse uma imagem de coletividade”, comenta a curadora.
A maioria dos trabalhos são inéditos e giram em torno de ideias como precariedade, hierarquização, mercado de arte, subúrbio, vernissage, propaganda, meme, plano, ironia e decepção. Assumindo, assim, uma certa confusão entre artes visuais, comunicação social e cultura material no neoliberalismo. “A estrutura social, com toda sua complexidade e desigualdade, está reduzida a uma questão de foco, fé e força”.
-
A expressão “a sorte está lançada” teve origem nos jogos de dados na Roma Antiga, mas entrou para a história quando foi dita pelo imperador Júlio César. Na época, o rio Rubicão ficava no limite entre o território governado por César e a área comandada pelo cônsul Pompeu. Para atravessar o rio, era necessária uma autorização. Foi então que, já às margens do Rubicão, o general declarou: “A sorte está lançada!”. Tratava-se de uma declaração de guerra. O conflito só terminou quando César tomou o poder em Roma e se declarou ditador vitalício. Ou seja, nunca foi sorte. Sempre foi guerra.
Esta exposição joga com a noção da meritocracia no atual contexto do Brasil, no qual o conceito está coroado como profecia. A justaposição entre capitalismo e uma certa religiosidade cristã é muito antiga, e suas atualizações mais recentes correspondem às convicções de “precariedade como realidade inevitável”, indissociabilidade entre “sucesso e graça alcançada” e “empreendedorismo como salvação”. A estrutura social, com toda a sua complexidade e desigualdade, está reduzida a uma questão de foco, fé e força.
Todas as obras apresentadas se configuram a partir de questões e formas do aqui-agora, e a maioria delas é inédita. Assim, mais do que um efeito de conjunto, a reunião destes trabalhos produz uma imagem de coletividade. Indagando sobre origem e classe social, trabalho e consumo, casa e corpo, estas/estes artistas assumem a confusão entre artes visuais, comunicação social e cultura material no neoliberalismo.
Elas/eles compartilham experiências e questionamentos, ainda que partindo de contextos diferentes. Desse modo, existem certos consensos permeando a exposição: pesquisa e produção artísticas são trabalho; diálogo entre artistas é de classe, antes de ser formal e/ou conceitual; galeria é um espaço de negociação; curadoria é sempre um freela: tudo que está aqui está em jogo e à venda.
O projeto foi pensado como um exercício curatorial que não fez proposições, mas reuniu conceitos e impressões decantados de cada um dos respectivos repertórios artísticos: precariedade, estética, construção, mercado de arte, subúrbio, vernissage, propaganda, meme, plano, ironia e decepção.
Nas pinturas de Fábio Menino, o espaço pictórico está concentrado nos objetos, apontando para a relação entre trabalho e consumo. As mãos aparecem pela primeira vez na produção do artista, evidenciando uma decupagem dos gestos do trabalhador. Em uma concepção dialética, esse corpo segmentado está subordinado ao condicionamento decorrente do trabalho repetitivo e, mais recentemente, da mediação digital.
Corpos automatizados reproduzindo gestos mecânicos são o laboratório de Leandra Espírito Santo. Se, por um lado, sua pesquisa enfatiza, por exemplo, que emojis são reduções icônicas de uma performatividade praticada há décadas, por outro, a provocação está na sugestão de que é a expressão corporal que pode ter sido reduzida aos ícones dos celulares.
Em termos de comunicação, Marta Neves é uma mestra da ironia. A artista já explorava a lógica do meme antes de ele ser um verbete no dicionário. Nestas obras inéditas, ela não levanta bandeiras: discute menos sobre protestos e mais sobre exercícios constantes de resistência. É menos sobre envelhecer e muito mais sobre emburrecer, perder a cor, perder a graça.
E o trabalho não termina quando chegamos em casa. Partindo de uma investigação sobre memórias e ausências, Ana Hortides lida com as relações entre casa, corpo e origem. Embrenhando nas estruturas, seus novos trabalhos exploram os materiais e as relações sociais que constituem a construção de casas. E, desse modo, o contexto do lar é expandido para o local em que ele se situa: o subúrbio.
O cotidiano periférico está no centro da pesquisa de Janaína Vieira. A artista iniciou sua trajetória trabalhando com colagens, e, atualmente, a noção de “recorte” sustenta uma reflexão sobre demografias. Questão sobreposta, a infância na favela também é um tópico fundamental: noções de pertencimento, escalada e visibilidade em concomitância ao crescimento das crianças. Pela primeira vez, Janaína apresenta assemblages, nas quais a escolha de cada objeto carrega a ambivalência entre a liberdade imaginativa da infância e a imposição violenta do controle social.
Instituição especializada no quesito acima, a polícia brasileira é um símbolo contraditório de insegurança e medo. E Allan Pinheiro desmantela essa corporação. O procedimento de deslocar e desmanchar materialidades institucionalizadas diz respeito à recusa das hierarquizações, contestando a noção de que determinadas pessoas pertencem a contextos específicos e não devem se misturar. A principal atividade da polícia é essa: impedir que certos sujeitos circulem e avancem, ainda que isso signifique encarceramento e assassinato em massa.
Gabriella Marinho está interessada exatamente naquilo que persiste apesar das sistemáticas tentativas de apagamento. Trabalhando com o barro, ela materializa ancestralidades e investiga questões da memória coletiva conectada ao território. A artista está atenta àqueles elementos religiosos que escapam da intolerância por estarem enraizados em suas comunidades. Uma resistência que é cosmogônica e, portanto, poderosa em escapar dos sofisticados e constantemente renovados mecanismos de catequização e genocídio.
Encarando esses abismos, o trabalho de Gustavo Speridião é um testemunho sobre a inerência entre o sistema das artes (configurado a partir da história e do mercado) e regimes político-econômicos (constituídos pelo mesmo binômio). Sendo assim, a obsessão de sua pesquisa sobre os planos na pintura é simétrica aos seus infindáveis processos investigativos e imaginativos acerca de planos revolucionários.
Enfim, antes era o ditado “Deus ajuda quem cedo madruga”. Agora, é a hashtag “nunca foi sorte, sempre foi Deus”. Ambos são mantras repetidos em uma estrutura na qual classismo, racismo, machismo, etarismo e intolerância religiosa são entendidos como “o jeito como as coisas são”. Em meio a camisas com o logo “fé”, sessões com coaches, muita positividade, novos tratamentos para síndrome de impostor e yoga, seguimos correndo atrás de cada drink na piscina, cada boleto pago, cada sessão de terapia, cada look de milhões, cada convite para uma exposição, cada jantar com curador, cada obra vendida. Trabalhe enquanto eles dormem. Reze enquanto eles tiram férias.
Exemplo que permeou o desenvolvimento deste projeto foi o episódio que aconteceu com o jogador de futebol Paulinho. Ao final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ele postou uma selfie vestindo a camisa da Seleção Brasileira e segurando a medalha de ouro. Na legenda, escreveu: “Nunca foi sorte. Sempre foi Exu”, trecho da música “Eminência Parda” do cantor Emicida, com participação de Dona Onete, Jé Santiago e Papillon. A repercussão foi enorme. Tanto no que diz respeito aos comentários de ódio como em relação às respostas de identificação e apoio. Esse acontecimento reitera que nunca foi sorte, nunca foi deus, muito menos esquema tático. Sempre foi racismo, luta de classes e perrengue. A tal da guerra.
// Ludimilla Fonseca
-
vistas da exposição

















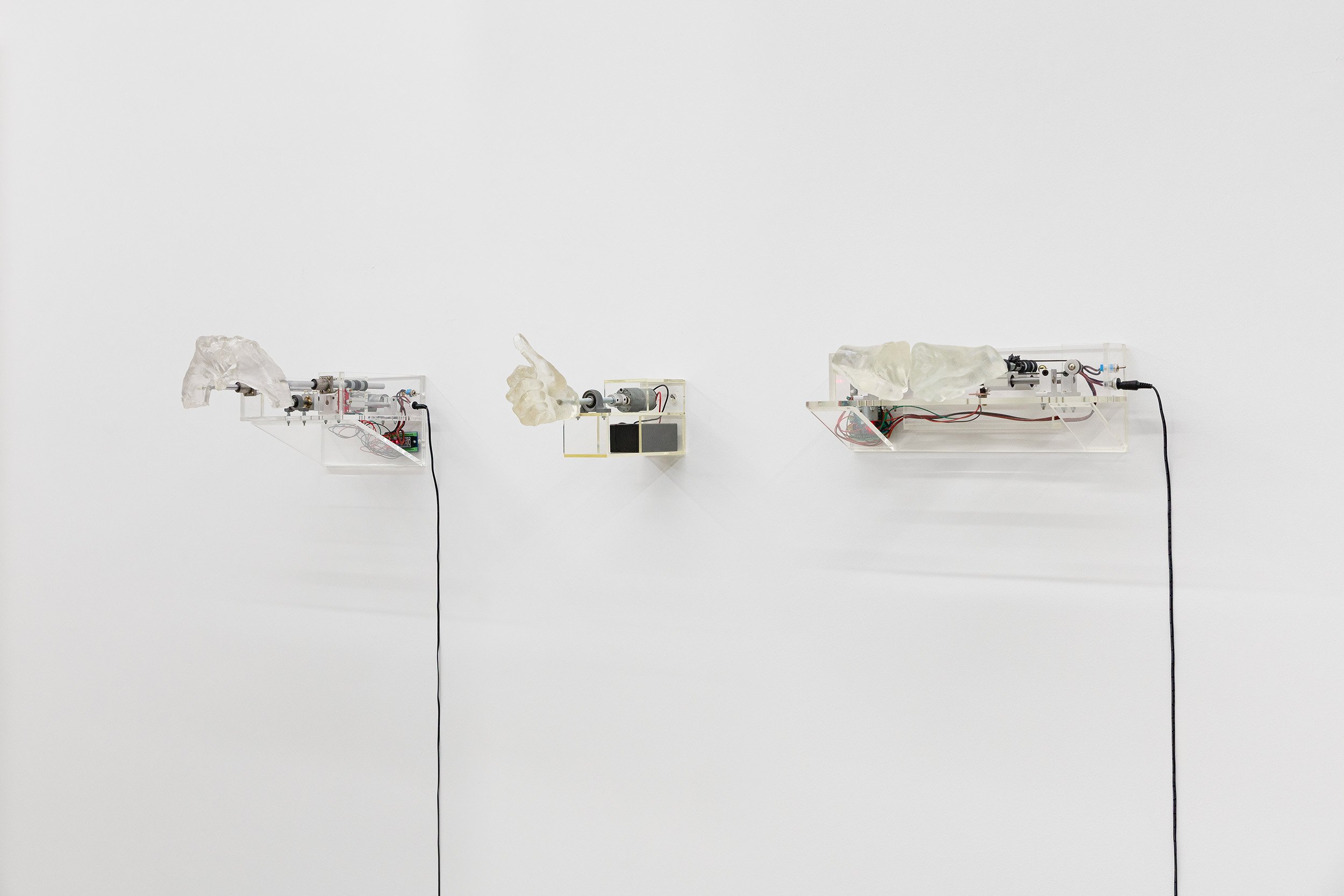




alegria, uma invenção
curadoria patricia wagner
antonio manuel, avaf, camile sproesser, carmézia emiliano, cícero dias, #coleraalegria, felipe cohen, gustavo torrezan, guy veloso, lourival cuquinha & luciana magno, manauara clandestina, mano penalva, marcos bonisson, nilda neves, opavivará!, randolpho lamonier, santarosa barreto, thiago honório, vivian caccuri & gustavo von ha, yhuri cruz


ana cláudia almeida: buracos, crateras e abraços (parte 2)
curadoria tarcisio almeida


janelas para dentro
curadoria guilherme wisnik
ana elisa egreja, bruno cançado, c. l. salvaro, candida höfer, carmela gross, clarissa tossin, cristiano mascaro, damián ortega, david batchelor, débora bolsoni, dora smék, fernanda fragateiro, frank thiel, frederico filippi, gretta sarfaty, josé carlos martinat, lais myrrha, luciano figueiredo, mano penalva, marcelo cidade, marcius galan, mauro piva, michael wesely, raphael escobar, ridyas, rodrigo sassi, sandra gamarra, sergio augusto porto, vivian caccuri
exposição realizada em parceria com a galeria leme


sergio augusto porto: de dentro para fora, da experiência à imagem
07 ago – 25 set 2021
curadoria diego matos
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar Sergio Augusto Porto: de dentro para fora, da experiência à imagem. Essa é a primeira individual de Porto em São Paulo, um dos pioneiros no Brasil dos desdobramentos da arte conceitual no campo ampliado da escultura, do site-specific e da land art. A exposição aborda questões fundamentais do pensamento e das experimentações do artista, calcados na radicalização do espaço da experiência, e reúne desde trabalhos seminais da década de 1970 até a produção mais recente, além de peças reeditadas especialmente para a ocasião. A curadoria, assinada por Diego Matos, demarca três instâncias que se coadunam conceitualmente: a explosão escalar das radicais produções da virada dos anos 1960 para os anos 1970; a problematização da escultura contemporânea e de seu diálogo com a arquitetura; e a subversão da noção de paisagem, aqui constantemente reinventada.
Sergio Augusto Porto é parte de uma geração de artistas conceituais que rompeu com os paradigmas do projeto modernista no Brasil. Ao lado de nomes como Alfredo Fontes, Cildo Meireles, Guilherme Vaz, Luiz Alphonsus, Thereza Simões e Umberto Costa Barros, Porto destaca-se no início dos anos 1970 ao se afastar de uma arte confinada pelo espaço do ateliê e pelos condicionamentos das categorias clássicas da arte para ir em direção a uma prática ambiental, experimental e participativa. Diego Matos analisa que “é na virada dos anos 1960 para os anos 1970, em pleno recrudescimento da ditadura civil-militar brasileira, que a arte experimental realiza um movimento conceitual e material de dentro para fora da prática artística que, em seguida, retorna ao espaço expositivo como registro ou ficção”. À medida que as proposições dessa geração ganham escala urbana, Porto passa a realizar intervenções efêmeras na paisagem que, por sua vez, desdobram-se em instalações, fotografias e objetos. São formuladas situações efêmeras de ação e convívio que podem eventualmente ser documentadas de modo poético em fotografia. “Revela-se aí, por exemplo, o desejo de pensar a escultura por meio do estudo fotográfico”, define Matos.
Após uma passagem intensa pelo circuito de exposições da época – tendo participado da Bienal de São Paulo (1973), do Panorama (1975) e da Bienal de Veneza (1976), entre outras –, Porto afasta-se parcialmente da cena no final da década de 1980, mas jamais para de produzir. A presente exposição, portanto, perpassa uma trajetória de mais de cinquenta anos para revelar um artista ainda em plena atividade, reintroduzindo sua obra para uma nova geração. A seleção de obras contempla pontes possíveis entre as intenções do passado e as urgências do presente de sua atuação artística.
“Sergio Augusto Porto desenvolve um pensamento sobre paisagem, calcado nas vivências em contextos urbanos em ampla mutação (Rio de Janeiro e Brasília) e na procura por locais limítrofes entre o natural e o construído”, discorre o curador. “Aqui, uma conexão com o que se propunha de mais radical na arte brasileira e estrangeira se faz presente. Em certo sentido, trata-se da problematização da paisagem como uma zona de contaminação da experiência do que se vê, do que é e foi vivido e de sua impermanência.”
Sergio Augusto Porto nasceu no Rio de Janeiro em 1946. Estudou Arquitetura na Universidade de Brasília (1967-1970). Em 2012 mudou-se para Salto, interior de São Paulo, onde atualmente vive e trabalha. De sua profícua atividade na década de 1970, destacam-se as participações no 4º Salão de Verão, MAM Rio de Janeiro (1972), recebendo o prêmio de viagem à Europa; na 12ª Bienal de São Paulo (1973), que lhe rendeu o Grande Prêmio Latino-Americano da mostra; no 7º Panorama da Arte Atual Brasileira (1975), ocasião na qual recebeu o Prêmio-Estímulo/Objeto; e na 37ª Bienal de Veneza (1976), quando integrou a Representação Oficial do Brasil. Mais recentemente, seu trabalho também foi incluído em exposições como Mitologias por procuração, MAM-SP (São Paulo, 2013); Brasília - Síntese das Artes, CCBB (Brasília, 2010); Arte como Questão: Anos 70, Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, 2007); Situações: Arte Brasileira Anos 70, Casa França-Brasil (Rio de Janeiro, 2000).
-
A vida que bate no seu corpo – eis a arte. O seu ambiente – eis a arte. Os ritmos psicofísicos – eis a arte. A vida intrauterina – eis a arte. A suprasensorialidade – eis a arte. Imaginar – eis a arte. O pneuma – eis a arte. A apropriação de objetos e de áreas – eis a arte.¹
Pensar e reconhecer a obra de Sergio Augusto Porto (Rio de Janeiro, 1946) hoje é pavimentar caminhos para a compreensão de sua prática artística, ao longo dos anos, por meio de artifícios e estratégias de visibilidade, como: a renovação crítica das formas de olhar e ler sua produção e a concepção de dispositivos de exposição que mobilizem antigos e novos públicos, constituindo sua inserção em circuito e mercado, tudo em consonância com o atual ambiente artístico brasileiro.
Pesquisar e refletir, selecionar e dialogar foram ações imperativas na definição de um partido curatorial em plena consonância com os anseios do artista. Para tanto, a fim de precisar uma seleção de obras que contemplem um arco temporal dos anos 1970 para os anos 2000 em diante, três caminhos conceituais se entrecruzam e definem escalas materiais e espaciais na produção de Porto, dando sentido à exposição² realizada na Central Galeria.
Deflagrar um movimento de dentro para fora é um eixo central das intenções do artista. Foi na virada dos anos 1960 para os anos 1970, em pleno recrudescimento da ditadura civil-militar brasileira, que a arte experimental realizou um movimento conceitual e material de dentro para fora e de fora para dentro: ampliou-se o lugar de realização dos trabalhos, constituíram-se situações fora do controle e da contenção institucional, realizaram-se experimentações sem domínio dos resultados e, de forma radical, promoveu-se uma ruptura escalar da natureza da obra de arte³. Toda a sequência de trabalhos capturados em fotografia e o audiovisual Reflexos (1971-1972) ensejam essas características.
Subverter a paisagem constantemente. Em especial ao longo dos anos 1970, Sergio Augusto Porto desenvolve um pensamento sobre paisagem, calcado nas vivências em contextos urbanos em ampla mutação, Rio de Janeiro e Brasília⁴, e na procura por locais limítrofes entre o natural e o construído. Obras como a instalação Projeto para uma auto-estrada/Faixa-relevo (1970) e a série de objetos-pintura Janelas (1999) sugerem um ponto de contato crucial entre a produção histórica e contemporânea do artista. Em um certo sentido, trata-se da problematização da paisagem como uma zona de contaminação da experiência, do que se vê, do que se vivencia, do que se registra e do que é impermanente. O trabalho mais recente em exposição, Série Brasília/Paisagem fragmentada (2020), reitera o território da terra vermelha do planalto central brasileiro, informação impregnada no imaginário do artista.
Encarar a escultura como linguagem a ser amplificada. O artista promove ao longo de sua trajetória uma expansão do que se caracteriza ou se constitui enquanto escultura. Deixando de lado preceitos clássicos e/ou modernistas, as iniciativas em escultura constituídas pelo artista permitem entender variadas maneiras de representação e construção: experimentos plásticos com vários materiais, destituição de signos, implicações do corpo e variações de escala⁵. De um lado, temos o objeto escultórico Escada para lugar algum (2012); de outro, a série de seis fotos Reflexos (1971-1972).
Enquanto retaguarda dos caminhos conceituais descritos, tanto o desenho como a fotografia têm presença indelével no percurso do artista, por isso trazemos registros, croquis e documentações selecionados para este contexto expositivo. De modo geral, tendo a história da arte em perspectiva, é na saudável miscelânea de termos e conceitos em voga na radicalidade da arte brasileira dos fins dos anos 1960 e início dos anos 1970 que a produção de Porto é fundada.
Arte ambiental, arte conceitual, arte objetual, situação, antiarte, contra-arte, arte de guerrilha, geração tranca-ruas, arte-dinamite, arte vivencial, arte proposicional, desmaterialização da arte, arte multimídia, audiovisual, arte pública, site-specific, land and environmental art, escultura no campo ampliado, escultura contemporânea, instalação, intervenção urbana e arte efêmera são alguns signos que definem a produção do artista ao longo dos anos, criando uma ponte entre as urgências de um passado não tão longínquo e os problemas de uma arte que se reconfigura no presente pensando novas territorialidades, implicando o corpo, pensando o meio ambiente, manejando a fotografia ao sugerir um movimento de captura da experiência à imagem. Eis a obra de Sergio Augusto Porto.
* * *
Em texto publicado à época da integração de Porto ao grupo de artistas da Central Galeria⁶, indiquei alguns nomes que, de uma forma ou de outra, compartilharam um cabedal parecido de anseios, iniciativas e experiências na arte contemporânea no início dos anos 1970. Cito primeiramente Alfredo Fontes, Cildo Meireles, Guilherme Vaz, Luiz Alphonsus, Thereza Simões e Umberto Costa Barros, entre os mais próximos, sendo alguns desses nomes parte do que ficou reconhecido como o Grupo de Brasília. Ampliando a lista, para além do contexto de vivência no MAM-RIO, menciono também: Antonio Manuel, Artur Barrio, Ascânio MMM, Carlos Zílio, Cláudio Paiva, Dileny Campos, Francisco Iñarra, Genilson Soares, Lydia Okomura, Manoel Messias, Miriam Monteiro, Odila Ferraz, Raymundo Colares, Vera Roitman e Wanda Pimentel, entre tantos. É conhecendo esse grupo de personagens e indo além que construiremos uma leitura histórica e humana mais ampla dos últimos 50 anos da arte brasileira.
// Diego Matos
_______________
1. Trecho do manifesto redigido pelo crítico e curador Frederico Morais no momento da exposição-evento “Do corpo à terra” (1970). Apesar de não ter participado daquela exposição em Belo Horizonte, Porto é artista integrado à descrição conceitual do crítico. Para consulta posterior à passagem citada: SEFFRIN, Silvana (Org.). Frederico Morais. Rio de Janeiro: Funarte, 2004, p. 118. (Coleção Pensamento crítico)
2. Na caracterização destes caminhos conceituais, o ensaio crítico da professora e pesquisadora Glória Ferreira, por ocasião de sua curadoria Arte como questão: Anos 70 (2007), foi baliza fundamental. Merece destacar que Sergio Augusto Porto participou desta exposição, no Instituto Tomie Ohtake. Ver: FERREIRA, Glória (Org.). Arte como questão: Anos 70. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2009.
3. Tributa-se essa percepção crítica ao texto seminal de Frederico Morais, Contra a arte afluente: o corpo é o motor da obra (Revista de Cultura Vozes, Rio de Janeiro, n. 1, jan.-fev., 1970).
4. O artista viveu seus anos de formação na nova capital federal, tendo estudado arquitetura na UNB, entre 1967 e 1970.
5. A intenção plástica na produção do artista foi sublinhada pelo crítico e escritor Francisco Bittencourt, no texto As múltiplas tendências do XIX Salão de Arte Moderna (Jornal do Brasil, 1970). Ver publicação: LOPES, Fernanda; PREDEBON, Aristóteles A. (Org). Francisco Bittencourt/Arte-Dinamite. Rio de Janeiro: Tamanduá_Arte, 2016, p. 39.
6. Ver texto: Situação, experiência e imagem: a radicalidade de Sergio Augusto Porto (Diego Matos, fevereiro de 2021).
vistas da exposição










rodrigo sassi: caminhos incertos, horizonte imprevisível
29 mai – 31 jul 2021
texto marcos moraes
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar Caminhos incertos, horizonte imprevisível de Rodrigo Sassi, sua primeira individual no espaço desde que passou a ser representado pela galeria em 2018. Testando os limites plásticos de materiais como concreto, madeira, ferro e pedras, os sete trabalhos tridimensionais que compõem a mostra exprimem o fluxo caótico das grandes metrópoles em sua essência viva e suscetível a transformações constantes.
O trabalho de Sassi tem seu ponto de partida na relação com a arquitetura urbana e os processos da construção civil, ressignificando os fragmentos, rejeitos e ruínas que coleta em suas caminhadas pela cidade. O curador Marcos Moraes – que acompanha a trajetória do artista desde sua graduação há quinze anos – observa que os novos trabalhos, porém, demonstram uma mudança nesse processo. No texto criado para a exposição, Moraes discorre: “A impossibilidade de ir para as ruas e continuar a coletar materiais para o trabalho levou Rodrigo Sassi a desviar-se para a interioridade de seu ateliê e a valer-se de tudo o que estava nele disponível devido ao acúmulo de coisas, materiais, fragmentos e restos. Um ciclo de trabalho e de experimentações em condições com as quais está familiarizado se encerra; ambiguamente, porém, permite que outro de lá se erga.”
Nessa produção pandêmica, confinada no estúdio, Sassi emprega materiais diversos como extintores de incêndios, pedras de pavimentação e vergalhões de ferro. Moraes identifica ainda a água como um componente oculto desses trabalhos, fazendo-se presente em diversas etapas do processo – seja nas fôrmas de concreto, na oxidação do ferro ou na técnica de curvar as placas de madeira. Dessa forma, é a água que, a despeito da rusticidade dos materiais usados, traz contornos fluidos e orgânicos para a exposição, imbuindo uma dimensão poética à brutalidade da cidade.
Rodrigo Sassi nasceu em 1981 em São Paulo, onde ainda vive e trabalha. Graduado em Artes Plásticas pela FAAP (São Paulo, 2006), recebeu o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea (Brasília, 2013) e realizou diversas residências artísticas como Campo (Garzón, Uruguai, 2019), Sculpture Space (Utica, NY, 2016) e Cité Internationale des Arts (Paris, 2014/2015), entre outras. Dentre suas exposições individuais, destacam-se: Tríptico, FAMA (Itu, 2019); Esquinas que me atravessam, CCBB-SP (São Paulo, 2018); Mesmo com dias maiores que o normal, CCSP (São Paulo, 2017); Prática comum segundo nosso jardim, Caixa Cultural (Brasília, 2016); In Between, Nosco Gallery/Frameless Gallery (Londres, 2015) e MDM Gallery (Paris, 2015); Ponto pra fuga, MAMAM (Recife, 2012). Seu trabalho está presente em diversas coleções importantes como: MAR (Rio de Janeiro), MAB (São Paulo), FAMA (Itu), entre outras.
Além de sua exposição na Central, Sassi também inaugura neste mês uma obra pública na Ciclovia do Rio Pinheiros, em São Paulo, intitulada Escultura parcialmente funcional. Parte da iniciativa Ciclo Cultural, a obra está localizada entre as estações Jurubatuba e Socorro e é a primeira de uma série de três esculturas permanentes que o artista desenvolveu para a ciclovia. O projeto foi contemplado pelo ProAC, Lei Aldir Blanc, na categoria Prêmio por Histórico de Realização em Artes Visuais.
-
Topologias da incertitude
Com Caminhos incertos, horizonte imprevisível é possível acercar-se da recente – e poderíamos até dizer pandêmica – produção de Rodrigo Sassi, por aquilo que aparentemente julgamos conhecer de sua trajetória e, fundamentalmente, de sua produção, visível e inconfundível pelo vocabulário por ele estabelecido na articulação de formas, materiais, técnicas projetivas e construtivas.
Como toda e qualquer leitura partindo desses pressupostos pode enganar o olhar menos atento, cabe a sugestão de direcionar a atenção para aspectos que permitam perceber sutilezas nas significativas mudanças e proposições que o conjunto de trabalhos aqui apresentado dá a entrever.
Os processos de trabalho do artista são, habitualmente, pensados e desenvolvidos partindo de sua relação com o espaço urbano, seus fragmentos, suas ruínas e seus restos, o que possibilita a ele ser um coletor de elementos e materiais encontrados em suas caminhadas e deambulações nas ruas. O atual momento reconfigura essa situação, trazendo o confinamento como um problema ou um aparente e desafiante limitador para suas elaboradas construções que ocupam os espaços arquitetônicos nos quais se instalam.
Acompanhando um percurso de trabalho de quinze anos, desde a graduação de Sassi, é possível perceber o interesse dele pelas ações, pelas matérias e pelas relações que a cidade e toda a dimensão do espaço urbano oferecem, proporcionam e demandam, em especial da perspectiva de alguém que se lançou sobre a cidade por meio da linguagem do grafite para, em seguida, propor-se a intervir de distintas maneiras nesse conturbado emaranhado de interferências humanas sobre a paisagem que identificamos como metrópole.
Estruturas e objetos dessa urbanidade, em particular aquilo que ela apresenta como detrito ou indício do cotidiano urbano, podem figurar como elementos dessa poética construtiva que, para Rodrigo Sassi, tornam-se força propulsora de produção. De armações, intervenções e ações a performances em (e com) caçambas, define-se um processo de ordenação das formas e materiais que, experimentados em distintas e diversas configurações e direções, permanecem desafiadoramente como um esqueleto de sustentação nas investigações do artista até hoje.
Mais um componente da trajetória do artista deve ser trazido para reflexões acerca da produção atual: as experiências em residências artísticas – ainda que carreguem certa ironia se pensarmos nos tempos atuais, por algumas de suas características, como deslocamento, convivência e trocas.
A residência artística é relevante para Sassi primeiramente porque, para ele, a relação com os espaços urbanos é vital. Por conta disso, já partiu de São Paulo para Londres, Recife, Paris, Nova Iorque e Garzón¹ – a lista, restrita apenas às localidades nas quais os processos de investigação de natureza artística são elaborados e desenvolvidos, dimensiona esse “estar inserido” em condições específicas de trabalho, mergulhado na perspectiva dos experimentos, da convivência e das trocas e imbuído desse espírito de “conviabilidade”, que marcam o sentido do estar junto. Com esse raciocínio teríamos a conexão com os processos iniciais de trabalho coletivo de Rodrigo Sassi.
Como outro componente do processo de investigação decorrente das experiências em residência artística, o embate com os materiais e os desafios propostos pelo enfrentamento das técnicas, tem se apresentado como aspecto relevante incorporado ao trabalho. Reverberam, declarada e assumidamente, as ressonâncias dos contatos com os contextos das distintas residências realizadas.
Cabe ressaltar nessas reverberações a referência nominal explícita e formal em sua concepção, em Gótica (2021), aos processos investigativos que motivaram Sassi a ir a Paris, assim como sua residência na Cité des Arts. O originário interesse e a pesquisa pela arquitetura gótica, suas formas ogivais, o desenho dos vitrais e suas simetrias que se desvencilham daquela clássica tradicional são reprocessados nas formas esguias e pontiagudas que o trabalho enfaticamente insinua.
Ainda pode ser identificada a experiência com o material que cava espaços na produção do artista e adentra seus processos com a experiência nos ateliês e as técnicas de trabalho no metal, iniciada em sua estada no Sculpture Space. Na exposição, as obras Renda portuguesa (2020/2021) e Abrus precatorius (2020/2021) trazem esses ecos, ainda que por meio de métodos distintos que implicam no processamento manual do vergalhão de ferro (articulado com fragmentos de minerais), no primeiro; e na apropriação do object trouvée (articulado, ainda, ao jogo do perigo e do elemento tóxico do título), no segundo.
Caminhos incertos
Os processos de trabalho relacionados com a incerteza – não mero conceito, ideia, ou mesmo termo utilizado para identificação de um sentido da produção – que marca o estado geral das coisas e o modo como vivemos hoje conectam-se inexoravelmente com as decisões e os planejamentos que previamente seriam definidos para a realização de cada trabalho ou, mais ainda, do conjunto para articular-se em exposição não podem mais seguir o curso predefinido porque são forçosamente conduzidos a uma condição de não controle. Os “resultados” decorrem, então, desses processos, da incerteza.
Trata-se, no entanto, de entender os reflexos do contexto e sua complexidade de dinâmicas, seja no processo, seja no trabalho final, mas não para os pensar apenas nessa condição de causalidade uma vez que se percebe a cada obra/proposição um percurso previamente experimentado e vivenciado que envereda por outros focos em função dos caminhos e das demandas ainda não concluídas e que tomam novos rumos com base nas mudanças das condições, tempo e trabalho. Tudo marcado por confinamento não programado: um cerceamento que desloca o artista forçosamente para o interior do ateliê, como um mergulho nesses espaços – pessoal e de trabalho – e, de certa forma, reflete-se em um redimensionamento da escala do trabalho, uma espécie de apaziguamento ou realinhamento com a perspectiva de vida interiorizada no limite do ambiente controlado.
Significativamente, a distribuição dos trabalhos no espaço expositivo possibilita um percurso temporal inverso ao identificarmos Entre vírgulas (2021) e Gótica (2021), dois trabalhos de produção mais recente, na entrada da sala, mas com o campo visual dominado ao fundo por aquele iniciado em 2019 e que atravessa, com sua elaboração e produção, esse recente período de distanciamento social. Nos dois trabalhos aqui mencionados, um elemento de construção da obra atrai o olhar mais detida e singularmente uma vez que, nas habituais formas curvilíneas, pedaços são inseridos para carregá-las de uma ambiguidade orgânica – geométrica –, corrompendo a aparente pureza dessa natureza referida nos volumes por ele construídos.
Nesse raciocínio, não é “por acaso” que Como carregar sua própria janela (2019/2021) constrói literal e formalmente uma ponte entre os distintos tempos e modos de produção dos trabalhos: linhas sinuosas e retas aliam-se a ângulos e curvas. Da mesma forma, a “brutalidade” das formas e dos materiais empregados – o resto da madeira, o fragmento do ferro, o cimento – é trabalhada, moldada e (re)conformada pela ação de outro elemento potente e silencioso, invisível e fundamental na realização e na moldagem das formas: a água.
A água é a condutora e definidora do processo de afirmação da dimensão curvilínea e orgânica que prevalece nas formas de Atalho (2020) e Rumo Sul (2020/2021) e se faz presente de modo significativo na produção do artista, ao longo de um processo que pode ter seu início identificado, de forma mais marcada, com o trabalho em grandes dimensões – e, para Sassi, a primeira empreitada na escala arquitetônica e monumental – desenvolvido para o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, no Recife, em 2012.
Horizonte imprevisível
Pensar a incertitude como ponto de partida para indicar o caminho percorrido em momentos e situações não previstas, como aquelas em que vivemos, aparentemente sinaliza processos de indefinição e de dúvidas sobre como seguir com o trabalho e dar vazão às angústias e pulsões que marcam, decisivamente, a vida em tempos de medo, insegurança e incerteza.
A impossibilidade de ir para as ruas e continuar a coletar materiais para o trabalho levou Rodrigo Sassi a desviar-se para a interioridade de seu ateliê e a valer-se de tudo o que estava nele disponível devido ao acúmulo de coisas, materiais, fragmentos e restos. Um ciclo de trabalho e de experimentações em condições com as quais está familiarizado se encerra; ambiguamente, porém, permite que outro de lá se erga.
É no próprio ateliê que, mais uma vez, ele arquiteta saídas ao retirar, e de lá retirar, por entre esses “restos e fragmentos”, que lá repousavam inertes e esquecidos, proposições que se apresentarão não como falha ou erro, mas paradoxalmente como potencialidade para outros percursos a serem trilhados.
Desse reconfigurar-se a partir do espaço interno – psicológico e arquitetônico – em direção a horizontes imprevisíveis afirma-se o desejo e a esperança de que eles, sejam quais forem, sejam não reencontrados, mas encontrados sob a nova perspectiva que se pretende poder criar com uma também nova forma de vida em comum.
// Marcos Moraes
_______________
1. Respectivamente: MAMAM (Recife), FAAP/ Cité des Arts (Paris), Sculpture Space (Nova Iorque) e Campo (Garzón).
vistas da exposição













a margem é mais larga que o vão
15 mai – 03 jul 2021
curadoria talita trizoli
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar A margem é mais larga que o vão, coletiva com curadoria de Talita Trizoli. Reunindo obras de artistas mulheres, cis e trans, a mostra propõe uma reflexão sobre a experiência do corpo feminino no contexto urbano, destacando as diferentes estratégias, desejos e limitações que mediam a presença desses corpos nos espaços de convivência.
Artistas: Aline Motta, Bruna Kury, Carolina Marostica, Fabiana Faleiros, Kátia Fiera, Natali Tubenchlak, Raphaela Melsohn, Ros4
-
O devanear do flâneuse, essa entidade capaz de flutuar pelos meandros urbanos em estado de descoberta e estupefação, talvez seja das mais recorrentes fantasias em tempos de interdição de deslocamento, limitações de contato e experiência coletiva. O termo foi conjurado por Baudelaire/Benjamin como um dos arquétipos modernos que ascendem da urbanização acelerada das metrópoles e de uma gentrificação tão violenta quanto classista e racista. A possibilidade de desbravamento de ruas, vielas e esquinas das cidades na condição de aventura cotidiana e deleite de experiências novas é privilégio quase exclusivo de certo tipo de individuo – geralmente branco, do gênero masculino, heterossexual e com condições materiais confortáveis, como bem salienta Janet Wolff: “O dândi, o flâneur, o herói, o estrangeiro – todas estas figuras invocadas para identificar a experiência da modernidade –, são invariavelmente figuras masculinas”¹. Quaisquer outros sujeitos que transitem pela cidade não flanam, mas se deslocam acompanhados por medo.
Não, nem todo corpo está autorizado a experienciar a multitude de espaços! Seja num breve deslocamento para afazeres cotidianos, seja na possibilidade do passeio, do lazer ou mesmo da tomada política das ruas, vivenciar a grade urbana é diretamente mediado por índices sociais: se o gênero é feminino ou dissidente, se o corpo não se adequa a padrões de desejo, se a pele não é alva ou se há signos de indicação de classe social de labor ou fragilidade, não há tomada das ruas, mas negociação de deslocamento – e vale lembrar aqui o que Elizabeth Grosz assevera: “A cidade é a condição e o meio no qual a corporalidade se produz social, sexual e discursivamente”².
Se o uso da cidade é atividade de negociação por excelência, o mesmo não necessariamente ocorre com o uso dos espaços privados, em especial no âmbito da intimidade: eles são tão segregados em sua criação quanto a urbe! Silvana Rubino aponta que “a divisão sexual do mundo, essa complementaridade e organização dos papéis sociais – harmoniosa ou não – é também uma divisão dos espaços, tanto da casa como da cidade”³. Desse modo, os espaços públicos, em suas mais diversas variantes, recorrem a uma série de artifícios e exigências para delimitar seu acesso e uso, enquanto os espaços privados, principalmente os domésticos, ainda que sejam territórios designados por excelência à feminilidade, são estruturados pelo olhar/desejo de agentes masculinos – afinal, a autoria feminina (ou de sujeitos de marcadores sociais fragilizados), no âmbito da arquitetura e urbanismo, é assunto ainda pouco elucidado, como bem comenta Beatriz Colombina: “As mulheres são os fantasmas da arquitetura moderna, sempre presentes, cruciais, mas estranhamente invisíveis”⁴.
Se a experiência de uso e fruição do espaço urbano e seu esqueleto arquitetônico varia de acordo com os marcadores sociais dos sujeitos, resta a indagação de quais estratégias são mobilizadas para reclamar a presença desses indivíduos nos espaços de ruídos e atritos. Pensando nessas questões, a presente exposição se propõe a colocar em evidência, de modo pontual, algumas das estratégias mobilizadas por artistas mulheres, CIS e TRANS, para se relacionar, negociar e modificar os espaços, sejam eles públicos, em ambientes externos, sejam privados.
Assim, a instalação escultórica-aquosa de Raphaela Melsohn não apenas se propõe a reformular o gesto construtivo de itens arquitetônicos/urbanos ou, mais especificadamente, monumentais/ornamentais, como busca ressaltar as relações ambíguas de desejo com tais espaços e itens, via homenagem a Nicolina Vaz de Assis, escultora com carreira consolidada no começo do século XX. Nicolina é ainda hoje figura pouco conhecida dos meandros artísticos brasileiros, mesmo que tenha conseguido negociar sua projeção profissional junto a uma vida pessoal de frustrações amorosas⁵. Melsohn toma de empréstimo sua referência escultórica – a “Fonte Monumental” presente na Praça Júlio Mesquita em São Paulo, hoje desativada e descaracterizada – para criar uma metáfora entre os movimentos dos líquidos do monumento/ornamento urbano e os fluxos dos desejos nos corpos. Assim, sua fonte invertida não jorra, mas derrama e vaza aquilo que produz de pulsão de vida e que não pode ser contido por recipientes.
Esses movimentos de desejo também tomam corpo na peça de Fabiana Faleiros. Adepta das performances e de seus derivativos instalativos e objetuais, em que mobiliza vocabulários da cultura pop e dos feminismos, a artista apresenta uma versão escrachada das birutas de sinalização de empreendimentos urbanísticos, item já clichêrizado dos processos de gentrificação acelerada, principalmente na região central da capital paulista. Essa peça, em vez de ter sua forma fálica molenga original, que se contorce de acordo com os movimentos do ventilador de base, apresenta-se como uma grande bunda laranja fosforescente que treme, brincando com os signos de consagração do gosto e do desejo e seus resvalamentos kitsch, em especial quando posicionada às margens da varanda externa do Instituto de Arquitetos do Brasil, que acolhe a exposição.
Pensando justamente nessas formas de materialização e consumo do desejo na urbe, com uma dimensão meio cômica, meio trágica, há também as gravuras pornográficas de Natali Tubenchlak, acompanhadas de um grande estandarte com assemblages mil de lembranças carnavalescas. No que concerne as gravuras, elas são resultado de um misto de curiosidade juvenil da artista sobre revistas eróticas de sua juventude, nos idos áureos da pornochanchada, e os materiais gráficos de propaganda que se encontravam espalhados na malha urbana. Vemos nessas imagens a transposição xilográfica de corpos femininos hiper-erotizados para as finadas folhinhas de controle de horário do estacionamento de veículos nas ruas, as quais levam nomes variados de acordo com a cidade e que, nessa junção, permitem uma leitura irônica dos modos de manifestação do desejo masculino e seus objetos – recordemos a correlação pop da libido masculina com os automóveis, extensões fálicas.
Esse aspecto público de devoração dos corpos femininos, infligido pelo olhar masculino e seus dispositivos de poder, torna inevitável uma correlação reflexiva com os jogos de exploração e desumanização dos sujeitos de sexualidade/subjetividades dissidentes, que afrontam os regimes binários de vida ora pela negociação, ora pelo combate. Nesse sentido, a produção pornoerótica e anarcatransfeminista de Bruna Kury, com vídeos caseiros e improvisados de uma pornografia divergente à da indústria, seja pelas performances, corpos e narrativas, seja pelos modos de distribuição alternativa, procura justamente subverter a condição de objetificação desses indivíduos. Vinculada a uma prática investigativa sobre os dispositivos de normatização do erótico e das subjetivações, a artista toca na dimensão de desvalorização dos afetos e nas estratificações da libido, defendendo que é no âmbito do gozo anarquista que há possibilidade de vida, ainda que precária.
É pensando também nesses estratagemas de sobrevivência que a artista multimídia Ros4 Luz apresenta performances musicais e poéticas, em concomitância a sua atuação como rapper e influenciadora digital, atividades que indiciam a inserção midiática de algumas figuras da comunidade TRANS que procuram interferir na distribuição informativa cultural. Ora vestida de noiva pop, transitando pelas ruas de Portland, nos EUA, e até rastejando por elas, desencadeando estranhamentos intencionais nos transeuntes; ora com uma lingerie erótica preta e sapatos de plataformas vermelhas, sentada sobre uma cadeira em um lixão isolado nos arredores de Brasília, envolta por registros fotográficos de sua carreira destruídos, a artista (em ambas essas ações, cadenciada, pelo rap), salienta as violências e incongruências às quais os sujeitos da comunidade TRANS estão expostos, e seus afetos defensivos frente aos ataques físicos e simbólicos.
O aspecto de ameaça e tragédia nas vivências da urbanidade talvez seja o ponto de convergência entre a variedade de corpos e as subjetividades que habitam a malha urbana e que, em alguma medida, exercem a feminilidade e as dissidências binárias. A experiência de medo, um processo de socialização imperativa para indivíduos não integrantes dos signos de poder, se manifesta claramente nas obras de Kury e Ros4, assim como nas pinturas de Kátia Fiera, artista íntima do circuito de publicações independentes, que tem realizado obras pictóricas de cunho gráfico em que há um exercício de crônica do cotidiano urbano. Sua representação de edifícios arquitetônicos icônicos da capital paulista salienta os contrastes entre as classes sociais e suas tragédias, principalmente na imagem do edifício Joelma em chamas, emblema do espectro de projeto moderno que perece – de um modo ou de outro, estão aí materializados índices do feminino que marcam classe e usos do espaço em suas polaridades.
Se nas artistas até aqui comentadas, percebemos os protocolos de intervenção direta no espaço urbano/público e seus elementos constituintes, é importante sublinhar que há outras relações estabelecidas por artistas mulheres com a dimensão arquitetônica dos espaços, almejando alterações de uso e deslocamentos dessas estruturas. Nesse caso, vale ressaltar as peças escultóricas de Carolina Marostica, construídas a partir de premissas de invasão, contaminação e escape de entidades amorfo-orgânicas, como massas disformes que escorrem e se expandem numa pulsão sintética de vida. No grande cubo de plástico flutuante, quase uma pele sintética com fios de cabelo roxo entre as camadas, ocorre a criação de um elemento ambíguo no espaço arquitetônico, que ora replica uma forma básica construtiva, ora desloca a noção de espacialidade devido a sua transparência, dimensão e fragilidade – por ser construído de um material plástico fino, flutuante, o cubo transmuta-se em um órgão autônomo e vivo, que ao movimento de brisas e ventos parece respirar.
Enquanto as formas orgânicas de Maróstica respiram para dentro, certas fotos de Aline Motta mostram um desejo de respirar para fora. Conhecida por projetos cinematográficos e fotográficos que oscilam entre premissas de instalações imersivas, cinema de artista e documentário poético, e com o compromisso de reformulação das narrativas afetivo-sociais das ancestralidades afrodescendentes no Brasil com a ferida escravocrata ainda aberta, Motta dá também uma atenção melancólica à dimensão da passagem do tempo a partir do encontro de objetos cotidianos e domésticos com códigos simbólicos da espacialidade africana. Na fotografia com uma camisa de tecido transparente, pendurada por um cabide de metal em frente à janela modernista de Niemeyer no Copan, morada da artista, é possível vislumbrar a vista para o centro de São Paulo, mediada pela risca de ponto do cosmograma bakongo, uma cartografia espiritual de marcação do tempo-espaço que conjura o desejo recente de transcendência do cotidiano e das limitações domésticas em tempos de reclusão pandêmica.
Ainda que haja dificuldades mil de uso e interferência dos espaços, sejam eles da dimensão pública das cidades e suas veias hoje distorcidas, sejam da vivência do esquadro doméstico (que ganhou relevância ímpar nesses tempos de pandemia), fica evidente nessas corporificações poéticas das artistas o desejo incontido de tomada e vivência da espacialidade, como um conjunto de gestos teimosos e de tentativas de dobrar o cotidiano mais pelo desejo de outros, mas de acordo com suas demandas.
// Talita Trizoli
_______________
1. WOLFF, Janet. The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Modernity. In: Feminine Sentences: Essays on Women and Culture, Berkeley: University of California Press, 1990, p. 9.
2. GROSZ, Elizabeth. Corpos-cidades. In: MACEDO, Ana Gabriela; RAYNER, Francisca. Gênero, cultura visual e performance: antologia crítica. Porto: Húmus/Universidade do Minho, 2011, p. 91.
3. RUBINO, Silvana. Mulheres Imperfeitas: suburbanização, gênero e domesticidade. In: BRITO, F.; LIRA, J.; MELLO, J.; RUBINO, S. (Org.). Domesticidade, gênero e cultura material. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017, p. 325.
4. COLOMBINA, Beatriz. With, or Without You: The Ghosts of Modern Architecture. In: BUTLER, Cornelia; SCHWARTZ, Alexandra. (Org.). Modern Women. Women artists at the Museum of Modern Art. New York: MOMA, 2010, p. 217.
5. SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão artista: mulheres, atividades artísticas e condicionantes sociais no Brasil de finais do Oitocentos. In: XXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, 2005, Belo Horizonte. XXIV Colóquio do CBHA. Anais. Belo Horizonte-MG: Editora C/ARte, 2004. v. 1.
vistas da exposição














c. l. salvaro: antes de afundar, flutua
24 abr – 30 mai 2021
texto giselle beiguelman
projeto especial, são paulo
-
A Central Galeria apresenta Antes de afundar, flutua, projeto especial do artista C. L. Salvaro. A obra consiste em uma instalação site specific ocupando todo o andar térreo da casa que lhe serve de residência e ateliê em São Paulo. O imóvel, prestes a ser demolido, tornou-se palco de uma série de experimentações ambiciosas com a arquitetura e a natureza, culminado em um trabalho que, por sua própria impermanência, reflete a instabilidade política e social dos tempos de pandemia.
Usando telas de arame, entulhos e materiais de construção, Salvaro criou um plano intermediário entre o chão e o teto, permitindo que a vegetação crescesse em meio aos escombros. Giselle Beiguelman, que assina o texto da exposição, observa que “aqui, a natureza rebela-se contra o paisagismo, submetendo a arquitetura às raízes que brotam rizomaticamente e nos colocam diante de um equilíbrio instável. Elas dançam sobre finos fios e, com qualquer movimento que fazemos, lembram-nos de que tudo está prestes a sucumbir.”
Antes de afundar, flutua foi recentemente selecionado para a programação da Liste Showtime 2021, versão online da feira de arte suíça que acontecerá em setembro, através da qual também recebeu o prêmio Impact da fundação Eckenstein-Geigy.
C. L. Salvaro nasceu em Curitiba, em 1980. Suas exposições incluem individuais em: Central Galeria (São Paulo, 2018), Ybakatu Espaço de Arte (Curitiba, 2018 e 2007), Memorial Minas Gerais Vale (Belo Horizonte, 2015), CCSP (São Paulo, 2005), entre outros. Entre suas coletivas recentes, destacam-se: Frestas – Trienal de Artes, Sesc Sorocaba (Sorocaba, 2017); Region 0 - The Latin Video Art Festival, New York University (Nova York, 2013) e Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Vigo, Espanha, 2013); 6ª VentoSul – Bienal de Curitiba (Curitiba, 2011); Biennale de Québec - Manif d’art 5 (Quebec, 2010). Seus prêmios e residências incluem: Prêmio Foco Bradesco ArtRio (Rio de Janeiro, 2017), Geumcheon Artspace (Seul, 2018), Bolsa Iberê Camargo – Fundação Iberê Camargo/CRAC Valparaiso (Chile, 2013), Bolsa Pampulha (Belo Horizonte (2010-2011). Sua obra está presente nas coleções: MAR (Rio de Janeiro), MAC-PR (Curitiba) e MuMA (Curitiba).
-
O colapso nos espreita de todos os pontos de vista. Em meio às manchas de umidade e à alvura das paredes, as plantas crescem, construindo um plano intermediário entre o piso e o teto. Caminhar no espaço instalativo de C. L. Salvaro é como cruzar um rio contra a correnteza. Dificilmente se chegará à outra margem.
É preciso curvar-se, encontrar os rasgos que nos permitem respirar, contemplar o todo. Da combinação de materiais de demolição, em simbiose errática com a periferia das construções, nasce um anti-mirante. Nele, a máxima elevação a que se chega é a da altura do próprio corpo.
Como náufragos, estamos sós diante de um mapa que não tem pontos de partida nem de chegada. A instalação obstrui o deslocamento. Telas de arame galvanizado se interpõem entre as paredes da antiga sala de estar de um sobrado do Jardim Paulistano, projetando uma espécie de pântano aéreo sobre o qual um jardim radicante disputa a primazia.
Aqui, a natureza rebela-se contra o paisagismo, submetendo a arquitetura às raízes que brotam rizomaticamente e nos colocam diante de um equilíbrio instável. Elas dançam sobre finos fios e, com qualquer movimento que fazemos, lembram-nos de que tudo está prestes a sucumbir.
Estamos em uma casa ocupada. Pelo silêncio vegetal e os escombros do presente. Nessa natureza fabricada pela erosão do cotidiano não cabem ruínas. Isso demandaria alguma “saudade de um futuro alternativo”, como pontuou Andreas Huyssen. Algo imponderável no Brasil de hoje.
Fragmento da história, a ruína presentifica o vivo na morte, escreveu Walter Benjamin, expandindo-se num arco temporal que abrange o seu antes e depois. A ruína nutre-se, portanto, de uma ambivalência essencial: apesar de nostálgica, manifesta a potência de imaginar outros porvires (mesmo que seja a partir de um passado que não foi).
Mas na malha tramada por Salvaro não há um depois. Há apenas a iminência de uma situação entrópica onde tudo se move, ainda que toda a ação tenha sido suprimida.
Não por acaso, quando pergunto ao artista suas referências, ele cita vários filmes. Salvaro me faz recordar do conceito time based arts, que remete a artes, como o cinema e o vídeo, cuja matéria-prima é o tempo. É disso que trata sua obra.
Há um forte odor de Beleza Compulsiva no ar. Ela é diferente do estado de convulsão, que André Breton descreve no poema “Nadja”(1928), imprimindo a força da irrupção não programada à tensão entre natureza e cultura.
Penso no surrealismo aqui não com os olhos de Breton, mas pela leitura de Hal Foster, compreendendo a beleza convulsiva surrealista pela chave da compulsão, como tendência à inércia, à repetição, à presença da pulsão de morte.
Beleza Compulsiva.
Haveria definição mais precisa do nosso agora?
Mas essa compulsão tem também um arfar de resistência. Ao anunciar seu desmoronamento, o paradoxal jardim entrópico de Salvaro indica que, antes de afundar, tudo flutua.
É preciso agarrar-se a essa rota de fuga. Inebriar-se do hiato que o artista sugere. Isso pode restaurar um sopro esquecido entre as distopias que estão entre nós. Flutuemos.
// Giselle Beiguelman
tour virtual
vistas da exposição


















dora smék: a dança do corpo sem cabeça
27 mar – 22 mai 2021
texto veronica stigger
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar A dança do corpo sem cabeça de Dora Smék. Em sua primeira individual na galeria, a artista empreende uma investigação acerca do corpo em situações de oposição, movimento, tensão e fluxo. Abordando o inconsciente e a sexualidade, seus trabalhos revelam um corpo fragmentado: dedos, braços, articulações e ossos são usados como moldes na fundição de esculturas em ferro, bronze e alumínio.
Oriunda da dança, Dora evoca elementos desse universo para guiar possíveis narrativas. Veronica Stigger, convidada para escrever o texto da exposição, observa que sua obra “se fundamenta numa tensão entre limite e extravasamento, contenção e expansão. Como num duo em que os bailarinos se enfrentassem em vez de dançarem juntos, mesas e tubos parecem querer conter o corpo, que, por sua vez, busca escapar ao limite que lhe é imposto.”
Dora Smék (Campinas, 1987) vive e trabalha em São Paulo. Graduou-se em Artes do Corpo na PUC-SP (São Paulo, 2011) e fez Mestrado em Artes Visuais na Unicamp (Campinas, 2019). Dentre as exposições de que participou recentemente, destacam-se: Arte em Campo, Estádio do Pacaembu (São Paulo, 2020); No presente a vida (é) política, Central Galeria (São Paulo, 2020); Polissemia Política – Arte Londrina 8 (Londrina, 2020); Hinter dem Horizont, Reiners Contemporary Art /Sammlung Jakob (Freiburg, Alemanha, 2020); Cuerpos Atravesados, Reiners Contemporary Art (Marbella, Espanha, 2020); Mulheres na Arte Brasileira: Entre Dois Vértices, CCSP (São Paulo, 2019); 47. Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto (Santo André, 2019); Triangular – Arte Deste Século, Casa Niemeyer (Brasília, 2019); 13. Verbo, Galeria Vermelho (São Paulo, 2017).
-
Até quando dança um corpo sem cabeça?
Dança
Antes de se voltar às artes plásticas, Dora Smék dedicou-se, por muitos anos, à dança, passando por várias técnicas. De todas, as que mais lhe marcaram foram a dança tradicional irlandesa, que praticou por uma década e meia, e a dança flamenca. Se a primeira a levava ao ar, a segunda a trazia de volta à terra. Na dança irlandesa, contou-me Dora, toda a força está na região coxofemoral, que impulsiona o corpo para o alto. É uma dança saltitante, leve, em que o tronco quase não se mexe e as pernas parecem máquinas em movimento compassado e repetitivo. É uma dança reta. O flamenco, por sua vez, nunca perde sua ligação com o solo. O pé bate com força no chão e, se se eleva em seguida, é para bater novamente, como se esperasse do solo uma reação. Enquanto os pés fincam o chão, os braços e as mãos giram em torno do corpo, que se retorce. É uma dança espiralada. Em contraste com o que ocorre na dança irlandesa, que se fundamenta num movimento ininterrupto, no flamenco o bailaor suspende repentinamente o passo para, no momento seguinte, retomá-lo com vigor. Há no flamenco, assim, como a própria Dora muito bem definiu, “contenção de energia e explosão” – dois aspectos que parecem ser fundamentais em sua atividade artística.
Na passagem da dança para as artes visuais, a “explosão”, na obra de Dora, se transforma em “extravasamento”, “transbordamento”, ou – no neologismo criado pela artista para dar título a um de seus primeiros trabalhos por meio do qual enfatiza justamente a ação de sair fora das bordas – “transbordação”. Preserva-se aí a ideia do que irrompe, do que não se contém, do que escapa, do que não cabe; e elimina-se o barulho. Excedem-se os limites, mas em silêncio. Em Transbordação (2010), um grupo de mulheres enfileiradas lado a lado urina na própria calça, como se não fosse mais possível se segurar. Para Dora, seus trabalhos posteriores não deixam de ser desdobramentos dessa performance. A maioria das esculturas que vemos reunidas na exposição A dança do corpo sem cabeça se fundamenta numa tensão entre limite e extravasamento, contenção e expansão. Como num duo em que os bailarinos se enfrentassem em vez de dançarem juntos, mesas e tubos parecem querer conter o corpo, que, por sua vez, busca escapar ao limite que lhe é imposto.
Talvez, para Dora, a saída para a contenção esteja sempre na dança, isto é, no corpo posto em movimento – mas num movimento que foge ao corriqueiro (caminhar, correr, abrir a porta, pegar algo no armário, subir e descer escadas etc.). A fábula de origem desse jogo entre contenção e extravasamento talvez possa ser situada num episódio marcante de sua vida pessoal, do qual Dora não tem memória própria, apenas a lembrança fornecida por relatos familiares. Fábula dolorosa, trágica e didática como toda ortopedia da forma: quando tinha pouco mais de um ano, sofreu um acidente de carro em que seu pequeno corpo rompeu o vidro da janela e foi arremessado a 50 metros de distância. Como quebrou as duas pernas, passou um longo período com elas encerradas numa caixa de sapato. Quando recuperada, precisou reaprender a andar. Porém, seus primeiros passos não foram de caminhada, e, sim, de dança. Eis a “magia do dionisíaco” tal qual preconizada por Friedrich Nietzsche em O nascimento da tragédia: “Cantando e dançando, manifesta-se o homem como membro de uma comunidade superior: ele desaprendeu a andar e a falar, e está a ponto de, dançando, sair voando pelos ares”. [1]
Corpo
Nas obras aqui expostas, o corpo não aparece inteiro, mas fragmentado. Por vezes, alguns dedos (Duplo), um punho (Agulha), um pé (Garganta), uma mão (Arma), deixam-se entrever numa das extremidades de um tubo retorcido, que, por sua vez, é fundido em ferro – material geralmente usado nas algemas e nas grades das cadeias. Não por acaso, a expressão em português “estar a ferros” significa “estar preso”, que é um modo mais violento de dizer “estar contido”. Em Canibais, um fêmur parece ter conseguido fugir da fome do tubo de ferro, que se sustenta sobre uma longa haste. Em três outros trabalhos, é o osso da pélvis – o centro do corpo e principal apoio na dança – o agente da ação. Em Duplo e Colo, a pélvis abraça o tubo retorcido, comprimindo-o. No primeiro caso, o tubo contém três dedos vermelhos numa de suas extremidades. Em Barra, a pélvis asfixia a barra de exercícios, tão comum nas salas de dança, como se, num acesso de raiva, vingasse-se desta pelo esforço sofrido. Já a série Dobras apresenta, sobre uma mesa de alumínio levemente curva, partes seccionadas do corpo – todas elas realizadas a partir de moldes do corpo da própria artista, como as mãos, os dedos, o pé de outras peças. Em Dobras #1, estão dispostos em fileira um joelho, um cotovelo e um calcanhar; em Dobras #2, um ombro, um joelho, um cotovelo e um calcanhar; em Dobras #3, cinco dedos incompletos. Os fragmentos – principalmente os de Dobras #1 e os de Dobras #2 – são quase indefiníveis, como pedaços de carne jogados sobre uma mesa.
Por serem de alumínio polido, o que lhes confere um aspecto asséptico, as mesas lembram mesas de dissecação, em que o corpo retalhado se oferece à observação anatômica. Há algo aqui daquela beleza-fratura [2] de que fala Georges Didi-Huberman a respeito da mesa de dissecação. Recuperando a famosa passagem de Cantos de Maldoror, em que Lautréamont diz de um personagem que é “belo [...] como o encontro fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva numa mesa de dissecação”, Didi-Huberman observa: “os dois objetos, máquina de costura e guarda-chuva, ambos surpreendentes, não constituem o essencial: bem mais conta o suporte de encontros, constituído pela própria mesa, como recurso de belezas ou de conhecimentos – analíticos, por cortes, por reenquadramentos ou por ‘dissecações’ – novos”. [3]
Na obra de Dora, a mesa, de tão polida, funciona ainda como um espelho. Os pedaços de corpos se veem refletidos nela: Narciso diante da mesa de dissecação, um Narciso destroçado, um Narciso-Dioniso. Não esqueçamos que Dioniso – deus do êxtase, da saída de si –, antes de ser despedaçado pelas bacantes enlouquecidas, fora dilacerado pelos Titãs, que o apanharam diante de um espelho.
Sem cabeça
Nos trabalhos de Dora, não é qualquer corpo que dança, mas o corpo sem cabeça. Para ela, uma das imagens inspiradoras é a da galinha que corre ainda por algum tempo depois de ter sua cabeça cortada. Mas até quando dança um corpo sem cabeça? O escritor Victor Hugo, diante do corpo seccionado pela guilhotina, ferramenta mortal que era a grande novidade de sua época, perguntou-se: “É a cabeça ou o tronco que será espectro?” [4]. Em nossa conversa, Dora me disse: “Quando dançava, queria me ver fora de mim”. Se, para ela, a dança representa um modo de sair de si, é o corpo, então, que se torna espectro, adquirindo uma existência outra para além da materialidade da carne. Numa passagem de seu livro sobre Israel Galván, brilhante reinventor da dança flamenca, Didi-Huberman lembra que Domenico da Piacenza, mestre da dança renascentista, afirmava que “a dança é uma arte que transforma o corpo em fantasma ou em sombra fantasmática”, estabelecendo assim “uma relação direta entre a carne e o ar, entre o corpo e a psiquê” [5]. Fantasma aqui pode ser outra palavra para imagem.
Mas por que fazer dançar um corpo destroçado e sem cabeça? Georges Bataille responderia: porque o corpo acéfalo é um corpo livre. Em texto publicado no primeiro número da revista criada por ele em 1936 e que se chamava precisamente Acéphale, Bataille afirmou: “O homem escapou à sua cabeça como o condenado à prisão”. O homem acéfalo é o homem que não se conforma ao “mundo da vulgaridade instruída”; é o homem, digamos, dionisíaco: “A vida tem sempre lugar num tumulto sem coesão aparente, mas não acha sua grandeza e sua realidade senão no êxtase e no amor extático. Aquele que insiste em ignorar ou em não reconhecer o êxtase é um ser incompleto cujo pensamento está reduzido à análise. A existência não é somente um vazio agitado, ela é uma dança que força a dançar com fanatismo”. [6]
É sintomático que Virada, uma das obras aqui expostas, tenha sido criada a partir do gesto de Blanche na pintura Une leçon clinique à la Salpêtrière (1887), de André Brouillet. A pintura mostra uma das aulas do neurologista Jean-Martin Charcot, que aparece ao lado de uma das mulheres diagnosticadas com histeria em pleno ataque, o que é perceptível pela contração dos músculos do braço. Sigmund Freud, num de seus primeiros textos sobre a histeria, realizados durante o período em que trabalhou com Charcot, percebeu que não se tratava de uma doença que tinha como causa algum distúrbio físico, porque as contrações e a rigidez dos músculos quando numa crise não respeitavam as paralisias regulares do organismo: “Nas suas paralisias e em outras manifestações, a histeria se comporta como se a anatomia não existisse, ou como se não tivesse conhecimento desta” [7]. Isso significava que, se o corpo convulsivo histérico não se comportava como o corpo físico, estava-se, então, diante de um corpo indomável, que não se submetia nem aos princípios neuroanatômicos nem à racionalidade; um corpo que, na acepção de Bataille, poderia ser considerado um corpo acéfalo; um corpo, em síntese, livre, ainda que contido na instituição psiquiátrica, no fundo uma variante de prisão.
Os surrealistas André Breton e Louis Aragon reconheciam na histeria não uma doença, mas um “meio supremo de expressão” [8]. Para Dora, há na histeria o mesmo movimento de “contenção de energia e explosão” do flamenco. Da imagem do quadro, Dora se detém na mão contraída – uma mão que, isolada, lembra também a mão retorcida do bailaor. Podemos identificar nas histéricas, tal como vistas a partir do surrealismo, assim como nos dançarinos e nas dançarinas do flamenco, sobrevivências modernas do cortejo extático (thíasos) que acompanhava Dioniso. As formas corpóreas despedaçadas mas dançantes de Dora atualizam o mistério do deus e suas mênades: dançam, ainda, sobre a mesa de dissecação. Esse triunfo dionisíaco sobre a morte, por meio da dança, foi magistralmente figurado por Rainer Maria Rilke na sua “Dançarina espanhola” (depois retomado por João Cabral de Melo Neto em seus “Estudos para uma bailadora andaluza”). Escreve Rilke:
Como um fósforo a arder antes que cresça
a flama, distendendo em raios brancos
suas línguas de luz, assim começa
e se alastra ao redor, ágil e ardente,
a dança em arco aos trêmulos arrancos.E logo ela é só flama, inteiramente.
Com um olhar põe fogo nos cabelos
e com a arte sutil dos tornozelos incendeia também os seus vestidos
de onde, serpentes doidas, a rompê-los,
saltam os braços nus com estalidos.Então, como se fosse um feixe aceso,
colhe o fogo num gesto de desprezo,
atira-o bruscamente no tablado
e o contempla. Ei-lo ao rés do chão, irado,
a sustentar ainda a chama viva.
Mas ela, do alto, num leve sorriso
de saudação, erguendo a fronte altiva,
pisa-o com seu pequeno pé preciso. [9]/ Veronica Stigger
_______________
1. Friedrich Nietzsche, O nascimento da tragédia ou Helenismo e pessimismo, trad. J. Guinsburg, São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 31.
2. Georges Didi-Huberman, Atlas ou A gaia ciência inquieta, trad. Renata Correia Botelho e Rui Pires Cabral, Lisboa: KKYM, 2013, p. 18.
3. Idem, ibid.
4. Citado por Jean Clair, Hubris. La fabrique du monstre dans l’art moderne. Homoncules, Géants et Acéphales, Paris: Gallimard, 2012, p. 136.
5. Georges Didi-Huberman, Le danseur des solitudes, Paris: Les Éditions de Minuit, 2006, p. 47.
6. Todas as citações de Georges Bataille são de “A conjuração sagrada” [1936], em Acéphale, n. 1, trad. Fernando Scheibe, Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2013, p. 2-3.
7. Sigmund Freud, “Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras orgânicas e histéricas” [1893], em Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. I, p. 212.
8. Louis Aragon e André Breton, “Le cinquantenaire de l’hystérie (1878-1928)”, em La Révolution Surréaliste, n. 11, 15 mar. 1928.
9. Rainer Maria Rilke, “Dançarina espanhola”, em Augusto de Campos (introd., sel. e trad.), Rilke: poesia-coisa, Rio de Janeiro: Imago, 1994, p. 39.
-
vistas da exposição











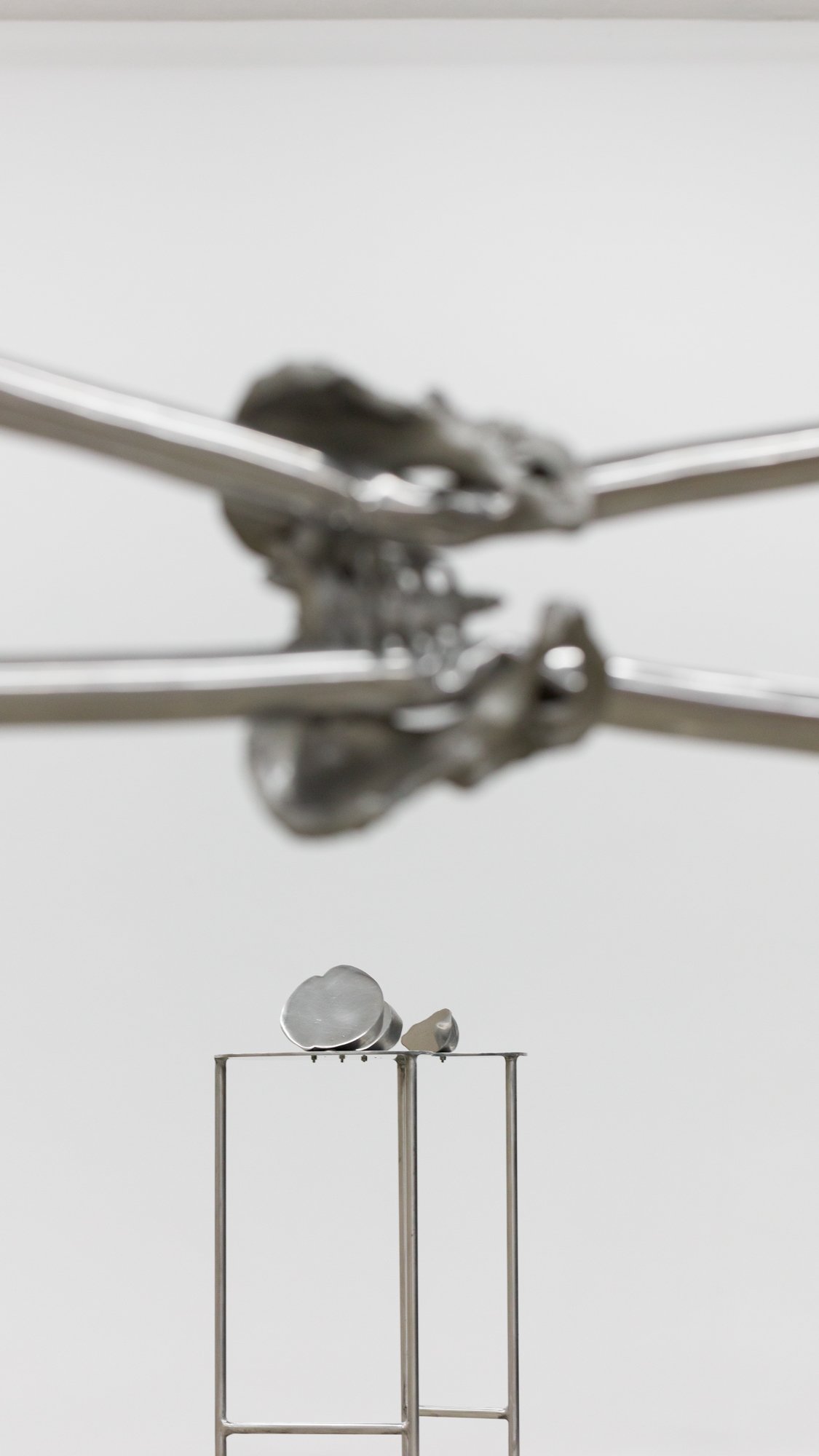
obras


martinat + sassi: marieloisa1003
13 dez 2020 – 13 fev 2021
texto thais rivitti
projeto especial, são paulo
-
A Galeria Leme e a Central Galeria têm o prazer de apresentar um projeto especial ocupando o Edifício Marieloisa com obras de José Carlos Martinat (Lima, Peru, 1974) e Rodrigo Sassi (São Paulo, 1981). Cada qual a seu modo, os dois artistas recorrem à paisagem urbana na composição de seus trabalhos, criando um diálogo direto com o centro da cidade e com o prédio que os recebe e dá título à exposição.
-
Imaginem que estamos bem aqui, no Edifício Marieloisa, no momento de sua construção, na década de 1950. Caminhando poucos quarteirões chegaríamos ao Largo de Santa Cecília, onde fica a famosa igreja com obras do pintor Benedito Calixto, inaugurada em 1901. Na esquina com a Rua Sebastião Pereira veríamos a requintada Clipper, primeira loja de departamento da cidade e primeiro estabelecimento a ter uma escada rolante. Seguindo o passeio, encontraríamos também boates famosas, cinemas luxuosos, casas de chá e outras lojas sofisticadas. Aos olhos mais atentos não passariam desapercebidos os edifícios art deco e os palacetes hoje tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nem o primeiro edifício modernista construído em 1927.
Diante do prédio Marieloisa conseguiríamos de fato voltar no tempo, pois a reforma cuidadosa empreendida pela CAVN preservou os detalhes da época – até as pastilhas da fachada foram substituídas por outras iguais às originais –, acrescentando apenas os benefícios das tecnologias mais modernas.
A combinação entre o charme de outrora e a vitalidade do presente, como se vê nos novos restaurantes, bares e atividades culturais que surgiram nos últimos anos, trouxe novos habitantes para a região e deslocou novamente o interesse para essa área da cidade.
As obras aqui expostas mostram um pouco como dois artistas encaram as transformações do meio urbano, como as vivenciam e, principalmente, como fazem dessas mudanças um assunto para seus trabalhos.
José Carlos Martinat, artista peruano representado pela Galeria Leme, dedica-se a pensar sobre a passagem do tempo e suas marcas no contexto urbano. Seus trabalhos pretendem apreender e conservar um momento, destacando-o do fluxo constante de destruição – e construção –em que as grandes cidades estão imersas. As delicadas películas soltas no espaço são fragmentos da visualidade urbana. Extraídas diretamente de muros da cidade por um processo de transferência, aparecem como reminiscências do passado. Tipos diversos de letras, logos e símbolos formam uma iconografia complexa, uma linguagem codificada. Essa passagem sem mediação do contexto público para o interior do espaço expositivo dá outro significado ao material apropriado pelo artista. No ambiente artístico, protegido, tendemos a apreciá-lo segundo as normas e o repertório da História da Arte. Na rua, muitas vezes, ele é visto como produto de vandalismo, sinalização improvisada ou propaganda sem interesse.
Rodrigo Sassi, nascido em São Paulo e representado pela Central Galeria, utiliza em seus trabalhos materiais da construção civil como ferro, madeira e concreto. Mantém com a cidade essa afinidade orgânica de elementos constitutivos. Seus ossos e sua carne são feitos da mesma matéria. As obras de Sassi aludem à arquitetura moderna; assumem a cor cinza, sem acabamento ou disfarces. Formam-se a partir da manipulação de materiais resistentes, numa possível alusão ao dia a dia duro dos habitantes da metrópole. Têm um equilíbrio tenso que está sempre por um fio e diz muito sobre uma convivência inevitavelmente no limite da violência e da opressão. Mesmo assim, ou, melhor dizendo, por isso mesmo, uma improvável beleza surge das obras, dando ensejo a uma camada menos imediata da percepção da vida em São Paulo. As obras de Rodrigo respondem à sua maneira à pergunta do dia: “Existe amor em SP?”.
// Thais Rivitti
vistas da exposição








tudo o que você me der é seu: prosas de mulheres na arte popular
05 dez 2020 – 30 jan 2021
curadoria renan quevedo
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar uma exposição dedicada às artistas populares brasileiras. Intitulada Tudo o que você me der é seu: prosas de mulheres na arte popular, a mostra é realizada em parceria com o projeto Novos Para Nós, do pesquisador Renan Quevedo, e reúne obras de quatro brasileiras de diferentes origens, gerações e repertórios: Efigênia Rolim, Lira Marques, Nilda Neves e Rosana Pereira.
-
Antes de tudo que vem a seguir, houve silêncio.
É louvável notar que, nos últimos anos, as instituições de arte tenham revisto seus históricos e esforços a respeito da diversidade em seus acervos. A fim de reconhecer locais de fala e trazer novas vozes argumentos para uma discussão mais democrática e pagar a vergonhosa dívida secular com grupos invisibilizados, projetam exposições em que o norte é o equilíbrio. A mostra Tudo o que você me der é seu – prosas de mulheres na arte popular é uma delas; traz as obras de quatro mulheres de diferentes origens, gerações e repertórios.
Faço minhas as palavras de Paulo Rezutti: “Não! As mulheres não precisam de mais um homem para falar por elas. A mulher brasileira tem voz própria há anos“¹. Aqui, oferecemos o espaço para essas artistas cujas obras falam por si mesmas. Com o Novos Para Nós, me proponho a contar as histórias que presencio e escuto sobre a obra e a vida, que nunca se desassociam, dos artistas populares (utilizarei este termo, embora com ressalvas). Ainda que 77% dos artesãos brasileiros sejam mulheres, a agenda artística e cultural se mantém distante dessa realidade. É um apagamento? Na exposição, buscamos contextualizar as histórias vividas, inventadas e testemunhadas por Nilda Neves, Lira Marques, Rosana Pereira e Efigênia Rolim, quatro artistas com produções permeadas por símbolos de identidade, consistência e particularidades.
Fazendo uso de barro, papel, plástico, tinta, tecido e metal, entre tantos outros materiais, as quatro artistas tecem narrativas. De acordo com Walter Benjamin (1892-1940), a prática da arte de narrar está ligada às mais antigas formas de trabalho manual². Ao passo que os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam responsáveis pela produção de cestaria, bordado, tapeçaria e trançado, além da propagação para as próximas gerações, trocando experiências.
Nilda Neves (1961-) é natural do sertão de Botuporã (BA). Bisneta de tupis-guaranis, estudou contabilidade e foi professora de matemática e comerciante, entre outras profissões. Em São Paulo, virou dona de bar. Os calotes a forçaram a ser manicure, o que só fazia a clientela gritar de dor. Nilda conta, gargalhando, que foi colocada para cortar cabelo – “e eu nunca tinha cortado nem cabelo de rato”³. Como pagamento de uma dívida, ganhou três DVDs: dois não funcionaram e o terceiro mostrava um religioso lendo um livro. A situação, que a deixou revoltada, também trouxe ideias: “Vou escrever o meu livro”. Uma sequência de páginas com histórias, crônicas e pensamentos sobre a vida tomou forma. Com a falta de dinheiro, Nilda se viu forçada a fazer o desenho para a capa. As pessoas gostaram do que viram dentro e fora do livro e a incentivaram no novo ramo.
Nilda, então, começou a pintar telas com temáticas referentes à vida no sertão, retratando tempos e costumes: cangaceiros, retirantes, atividades manuais, animais, paisagens, comidas, profissões, vínculos afetivos, conflitos e folclore. Lançou mão de pinceladas arrastadas e secas, que preenchem a tela e dão origem a texturas e padrões. O bom humor, uma das características mais marcantes no trabalho de Nilda, divide espaço com lamentos, introspecções, solitudes e vazios. “Me chamavam de artista plástica, mas eu dizia que não era porque achava que esse termo era pra quem fazia arte com plástico”, conta rindo. “O que as pessoas acham feio, eu acho bem bonito.”⁴
Lira Marques (1945-), nascida em Araçuaí (Vale do Jequitinhonha, MG), tem um diálogo com a natureza em diversas formas. Sabe e entende que veio da terra e que para ela voltará. Sua mãe fazia bonecas de pano e presépios de barro para presentear os vizinhos, e assim foi despertada a curiosidade de Lira: ainda criança, começou a fazer pequenas esculturas com cera de abelha, posteriormente se dedicando à cerâmica. Os desenhos em papel e pedra – que hoje são seu carro-chefe – só surgiram em 1994, após fortes dores nos braços. Hoje, Lira coleciona diferentes tons de pigmentos minerais que encontra pela região e aplica em seu trabalho, além de investigar e acumular um conhecimento inesgotável sobre a cultura popular, o comportamento, a música, os habitantes e sobretudo a vida dos que lá persistem.
A série aqui exposta foi batizada por Lira de Meus bichos do sertão. São representações feitas em barro com traços da economia e da estética rupestres: figuras bípedes e quadrúpedes que se assemelham a aves, répteis e anfíbios e, frequentemente, são híbridos entre real e imaginário. Os animais são definidos por seus bicos, penas, chifres e rabos; ora sozinhos, ora acompanhados por seus ovos, índices da flora e minerais. Em determinados momentos, Lira agrupa elementos em formas ovaladas que sugerem exposição em pedras e pastos, reclusão em cavernas e buracos; ou, ainda, os escava como uma arqueóloga da própria vida e história. A aridez estética é marcada pelo relevo da matéria-prima e reforçada pelos ângulos agudos das extremidades dos bichos. Podem ser “mansos, mas também ariscos”⁵ – está pronta para soltá-los em troca de proteção e adiamento dos apocalipses.
Também do Vale do Jequitinhonha, Rosana Pereira (1988-) nasceu em Caraí (MG) com uma bolinha de barro nas mãos. Filha, neta, bisneta, tataraneta de ceramistas – e aqui nos perdemos na incerteza de sua árvore genealógica, mas seguros da atividade quase tricentenária na região –, desde pequena foi iniciada na modelagem do barro. A produção de Rosana é diretamente ligada à produção de seu avô, Ulisses Pereira Chaves (1922-2006), celebrado como um dos maiores escultores brasileiros por Burle Marx⁶ e Lélia Coelho Frota.
Influenciada esteticamente por Ulisses, Rosana adquire temática própria e flexiona a rigidez das figuras do avô com movimentos e interações entre os corpos. De poucas palavras e grande timidez, encontrou na escultura a melhor forma para se comunicar. Suas obras mostram figuras antropozoomórficas, com corpos humanos e rostos de animais. A figura feminina, em sua grande maioria, traja um vestido de noiva, e, a masculina, terno completo para o casamento. Subvertendo a rígida tradição local, há uma inesperada relação entre os personagens: os femininos têm o poder e o controle da cena. São eles quem rastejam, caem, fraquejam, obedecem, são carregados e fragilizados. Rosana, a mais jovem presente na exposição, resume a série com: “Faço isso porque a mulher também é importante”⁷, levantando uma bandeira não de superioridade, mas de igualdade entre os gêneros.
Efigênia Rolim (1931-), natural de Abre Campo (MG), iniciou sua produção artística em Curitiba (PR). Conhecida como “Rainha do Papel de Bala” há mais de 30 anos, um fato mudou toda a sua história: andava pela rua quando viu um objeto brilhante no chão. Surpresa, se abaixou para pegá-lo; era “apenas” um papel de bala. Pensou nas relações que estabelecemos com pessoas e concluiu que, enquanto o papel tivesse uma função embrulhando o doce, despertaria interesse por parte de alguém. Chamou-o, então, de “mísero caído”. Começou a recolher todos os que via pela frente, pensando: “Se conseguir um por dia, no final do ano tenho 365” – enquanto as pessoas só a chamavam de louca. “Ninguém achou que eu fosse vingar.”⁸
Os papéis invadiram suas vestimentas e, juntamente com outros materiais considerados “lixo”, são matérias-primas das esculturas, compondo também apresentações e poemas. “As pessoas ficam impressionadas com o trabalho que tenho para fazer minhas peças, mas não há nada que eu goste mais do que isso. É preciso de imaginação e querer fazer.”⁹ Marcados pelo processo de acúmulo, destruição, construção, ressignificação e bricolagem, seus trabalhos apresentam narrativas oniscientes inspiradas em contos de fada. Seus personagens e histórias transitam entre o real e o extraordinário, frequentemente manipulados com o recurso pedagógico da repetição. Apresentamos a inédita série Natureza racional, justificada pela artista com: “Cansei de falar com os homens, agora vou falar com os animais”¹º. Autointitulada Guardiã do Mundo, com a voz no presente e seu eco no futuro, Efigênia nos provoca a respeito da sustentabilidade e das próximas etapas da humanidade ao interferir no tamanho real dos homens e bichos, propondo novas dimensões e relações entre eles.
Nilda e Lira se voltam para o meio de criação rural como base para a formação de seus discursos, enquanto Rosana e Efigênia projetam narrativas com preocupações a princípio urbanas, embora certamente de interesses universais. O equilíbrio também ocorre por meio das intersecções, similaridades e dissonâncias de suas falas: feminino, cotidiano, deslocamento, força, tempo, igualdade, resiliência, ancestralidade e consciência ambiental, entre tantos outros temas. A distância acadêmica revela uma crescente pesquisa de matérias e experimentações técnicas em busca de um apuro narrativo e estético.
As histórias contadas através dos trabalhos presentes na mostra foram construídas com base na observação do cotidiano vivido ou percebido, dos costumes e da sensibilidade. São narrativas que moram nas quatro artistas e as mantêm vivas. Já os objetos perdem o valor contemplativo e podem assumir caráter de devoção, evocando suas crenças, sonhos, pensamentos e questionamentos. Recusando serem caladas, as ideias que propagam se baseiam na perpetuação, preservação e libertação de suas raízes, do cotidiano e do futuro que agoniza e sufoca.
Se “por muito tempo na história, ‘anônimo’ era uma mulher”¹¹, como escancara Virginia Wolf (1882-1941), queremos que as prosas das mulheres sejam notadas, que suas vozes sejam ouvidas e que possamos nos inspirar com suas histórias. É preciso visitá-las e revisitá-las para que grupos periféricos ganhem um novo e merecido espaço na noção de arte brasileira, em nossas agendas e em nossa sociedade, abandonando as margens. Tudo o que você me der é seu é uma generosa troca, e somos nós que ficamos com o presente.
// Renan Quevedo
_______________
1. REZZUTTI, Paulo. Mulheres do Brasil: A história não contada. 1. ed. Rio de Janeiro: LeYa, 2018, p. 17.
2. BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e técnica, arte e política. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, v. 1, p. 197-221.
3. Em entrevista para o curador em 3 de outubro de 2019 em visita ao ateliê.
4. Idem.
5. Em entrevista para o curador em 30 de agosto de 2020 em visita ao ateliê.
6. FROTA, Lélia Coelho. Pequeno dicionário da arte do povo brasileiro – Século XX. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2005, p. 403.
7. Em entrevista para o curador em 31 de agosto de 2020 em visita ao ateliê.
8. PINHEIRO, Dinah Ribas. A viagem de Efigênia Rolim nas asas do peixe voador. Curitiba: Edição do autor, 2012, p. 21.
9. Em entrevista para o curador em 4 de maio de 2018 em visita ao ateliê.
10. Idem.
11. WOOLF, Virgínia. Um teto todo seu. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 62.
tour virtual
vistas da exposição









no presente, a vida (é) política
12 out – 28 nov 2020
curadoria diego matos
-
Curadoria de Diego Matos
Com obras de Bruno Baptistelli, Clarice Lima, Dora Smék, Fernanda Gassen, Fernanda Pessoa, Gabriela Mureb, Gustavo Torrezan, Marília Furman, Paul Setúbal e Rafael Pagatini
-
Possibilidade é conteúdo, potência é energia e poder é forma. Chamamos possibilidade um conteúdo inscrito na constituição de um mundo presente, imanência do possível”. ¹
Vasculhar as evidências materiais do passado, colocando-as em questão; ressignificar símbolos, normas e tradições, dando visibilidade ao corpos e fazeres que estão à margem; desalienar as práticas cotidianas, buscando espaços de ativação coletiva; requalificar a noção de trabalho como vivência emancipatória, batalhando contra a precarização e a hiperconexão controlada; questionar formas de poder opressoras, respondendo aos desejos também do outro; evidenciar sujeito e corpo implicados no cotidiano, contribuindo para uma reestruturação do corpo social e, enfim, tomar de volta o caráter público da arte. Estas são possibilidades de ação presentificadas pela produção de dez artistas reunidos na exposição coletiva No presente, a vida (é) política.
Nela, a arte é protagonista dos temas emergenciais da vida democrática, além de dispositivo qualificador das implicações do corpo e do indivíduo no tecido social. Reside a ideia de que o trabalho de arte é um agente de mudança que batalha pela desautomação da linguagem e dos afetos, podendo nos ajudar a clarear os impasses do momento e até mesmo imaginar novos entendimentos para o futuro que se avizinha.
Dez artistas — Bruno Baptistelli, Clarice Lima, Dora Smék, Fernanda Gassen, Fernanda Pessoa, Gabriela Mureb, Gustavo Torrezan, Marília Furman, Paul Setúbal e Rafael Pagatini – confabulam pesquisas, estratégias, ensaios, enunciados, registros e formas de ação conscientes no presente, refletindo permanentemente sobre a possibilidade de vida politizada, coletiva e libidinosa, que não se deixa findar e que não espera pelo futuro prometido das narrativas da religião purificadora, da bonança econômica neoliberal e da crença velada nas formas limitadoras de operar a política democrática e liberal. Portanto, entende-se que a arte é um caminho para vincular à vida sua qualidade essencial de política.
Tal percepção nasce das provocações advindas de reflexões contemporâneas, especialmente da escrita potente de Franco Berardi. Em seu texto, ao falar de nossa época como momento posterior ao futuro sonhado pelas construções utópicas do século passado, ele nos traz o conceito de futurabilidade: “a multidimensionalidade do futuro, a pluralidade dos futuros inscritos no presente e, também, a composição mutável de intenção coletiva” ² . De certa maneira, todos os 24 trabalhos dispostos ao longo da galeria fundamentam-se em experiências pensadas por meio da reinvenção contínua do convívio e da sobrevivência no tempo presente. Portanto, são especulações para uma futurabilidade, ensejando constantemente a iminência do possível.
Se estamos vivendo as consequências catastróficas da aceleração do antropoceno – pandemia pode ser exemplo disso –, pode ser pelos desafios do pensamento e do fazer artístico que conseguiremos destituir o sentido de impotência diante da crise permanente em que vivemos mergulhados. Os mecanismos da arte podem, inclusive, reavivar conflitos, dissensos e antagonismos necessários à esfera pública, algo muito bem pontuado por Chantal Mouffe ao trazer para o debate público uma percepção agonística da democracia. ³
Aliás, a produção contemporânea em arte pode e deve ser lugar da construção de experiências desconfortáveis aos consensos políticos. E é sobre esse desconforto que em certa medida os trabalhos apresentados se assentam.
É importante pontuar que a exposição toma forma no já histórico edifício de esquina do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IAB-SP), lugar que guarda significativas memórias de um lastro cultural de resistência e inovação na cidade. Ocupando o subsolo e o mezanino da edificação, contaminando áreas comuns e sinalizando para a rua, algumas obras acabam por se relacionar de maneira física e simbólica com o local; outras, por sua vez, ganham potência pelo contexto ou promovem atritos com a história política e cultural que dali emana.
// Diego Matos
_______________
1. Duas publicações do filósofo e escritor, professor e agitador cultural italiano Franco “Bifo” Berardi foram lançadas recentemente no país pela Ubu Editora: Depois do futuro e Asfixia: capitalismo financeiro e a insurreição da linguagem. É da primeira delas a epígrafe: BERARDI, Franco. Depois do futuro. São Paulo: Ubu Editora, 2019. p. 179.
2. Ibid. p. 182.
3. Essa percepção do político como expressão incontornavelmente antagonista, polarizado e plural comparece de maneira instigante na publicação traduzida para o português dessa filósofa e cientista política belga: MOUFFE, Chantal. Sobre o político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015.
tour virtual
vistas da exposição

















terra
22 ago – 03 out 2020
curadoria simon watson
-
A Central Galeria tem o prazer de apresentar “Terra”, exposição coletiva curada por Simon Watson. A exposição conta com obras de três artistas emergentes – João Trevisan, Leandro Júnior e Lídia Lisboa – explorando o espírito do sertão brasileiro.
-
A exposição reflete uma exploração curatorial que se iniciou há dois anos em julho de 2018. Uma viagem de 20 horas realizada ao vale do Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais, para conhecer o ateliê do pintor e escultor Leandro Junior assim como uma visita ao Quilombo de Cuba onde o artista é professor de artes voluntário de jovens e crianças. A região é notável de diversas maneiras: uma paisagem montanhosa, austera, acidentada e seca povoada por habitantes amigáveis, cujo espírito descomunal não é saciado pelas circunstâncias econômicas claramente difíceis da região. É uma região com profunda ligação com a história do Brasil. Lugar onde portugueses primeiro instalaram minas para exploração de metais preciosos, abastecidas por incontáveis gerações de africanos escravizados. Após esta primeira e breve visita ao vale do Jequitinhonha, ficou claro que ainda havia muito a se aprender sobre a região, as pessoas e sua história. Uma profunda fascinação com a região levou a uma exploração de artistas que abordam temáticas do sertão assim como leituras sobre a região, incluindo uma das mais famosas obras da literatura brasileira, o marco de 1956 de Guimarães Rosa Grande Sertão: Veredas, que tira força de um lugar com beleza crua, terra de um povo orgulhoso e diverso com uma história complexa.
Em “terra” as obras estão dispostas numa leitura da esquerda para a direita, em uma temática alegórica do dia para a noite, ao longo das três paredes principais da Central Galeria: a manhã é representada por vídeo, desenhos e esculturas de Lidia Lisboa; a tarde é representada por uma série de pinturas de Leandro Junior; e a noite é retratada por pinturas, video performance e instalação de João Trevisan.
Metaforicamente a exposição começa de madrugada com o video performance “Alvorecer” de Lidia Lisboa, realizada na Estação da Luz. Num monitor de vídeo na parede esquerda da galeria, descobrimos Lisboa vestida com uma das suas esculturas de tecido com dois metros e meio ‘’Casulo” . Sua performance é ondulante, sugerindo um bicho-da-seda gigante em uma jornada pela estação de trem do século XIX. Misteriosas, lúdicas e sobrenaturais, suas esculturas “Casulo” são uma versão suave de sua mediação ao longo da vida sobre o tema dos formigueiros encontrados em todo o Brasil. De muitas maneiras, seu foco é uma reflexão sobre comunidade, sobre a construção da comunidade, sobre as várias maneiras como uma unidade comunitária é concebida. Lidia Lisboa é natural de Guaíra, no Paraná. Os temas de suas obras refletem as pessoas e a paisagem de sua criação. Suas esculturas de argila feitas à mão, chamadas de “Cupinzeiro”, fazem referência a grande parte da paisagem vista em toda a América do Sul (bem como na África e na Austrália), em que os campos dos fazendeiros são pontilhados com montículos de terra vermelha, às vezes em escala de outeiros, todos feitos por colônias de cupins. Às vezes incrustadas com cacos de vidro e outras vezes com metal ou conchas, essas esculturas têm uma qualidade estranha e maravilhosamente perturbadora.
Ao longo da parede de cimento áspero da galeria estão alinhados os retratos pintados por Leandro Júnior de uma série de pessoas de costas que parecem olhar para o céu azul do futuro. Júnior é um pintor e escultor figurativo que se inspira na cultura forte e na intimidade cultivada no vale rural do Jequitinhonha, onde a maior cidade tem uma população de 7.000 habitantes. É um artista emergente que vem desenvolvendo sua pintura e escultura utilizando o barro como principal matéria-prima. Suas obras têm características únicas, o artista extrai o barro de um dos quilombos da região. Pintados com argila liquefeita que enfatiza a memória afro-brasileira do Vale do Jequitinhonha, seus retratos recentes tocam notas de tristeza e empoderamento - bem como a alegria absoluta de estar vivo em uma comunidade rural pobre, mas autossustentável.
A noite é narrada na terceira e última parede da exposição em uma série de pinturas óleo sobre tela, um vídeo performance e uma escultura robusta e articulada feita de dormentes de madeira e dobradiças de ferro do artista João Trevisan. Sua mais nova série de sete pinturas da série ‘’Intervalos’’ tem uma qualidade meditativa noturna e um preto rico que parece aludir ao espaço profundo. Em ensaio publicado no início do ano intitulado “O Ritmo Da Noite” de Ulisses Carrilho, o curador e crítico carioca refletiu sobre os “Intervalos” de Trevisan, que para ele remetem ao crepúsculo dos hábitos , repetição e ritmo. A exposição se encerra com uma video performance de Trevisan, um devaneio poético ao longo de uma ferrovia que termina em fogo. Para aqueles de nós com memórias de infância do som distante de um trem, é também sobre os confins da memória.
// Simon Watson
tour virtual
vistas da exposição








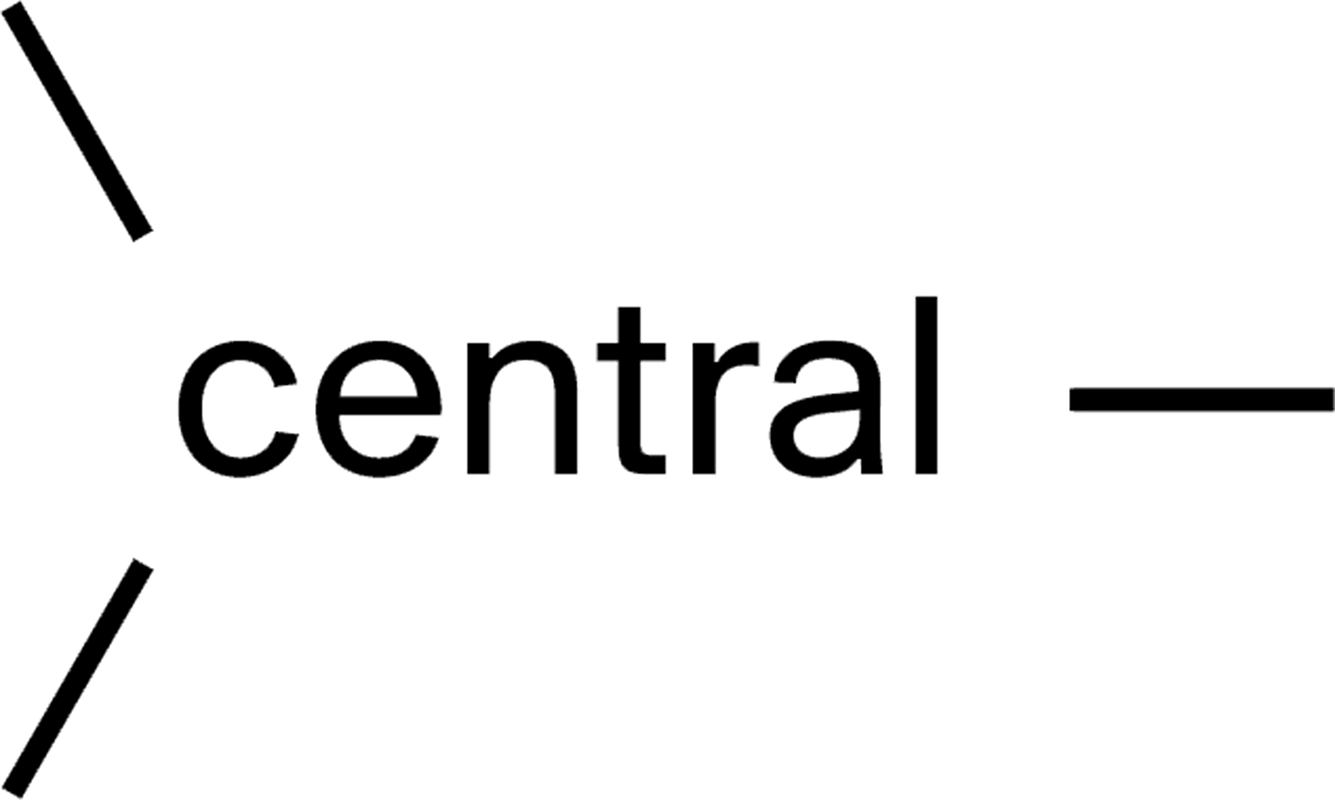






























































































































































the hands that rocks the cradle, 2023
óleo sobre tela e cerâmica
44 x 30 x 5,5 cm